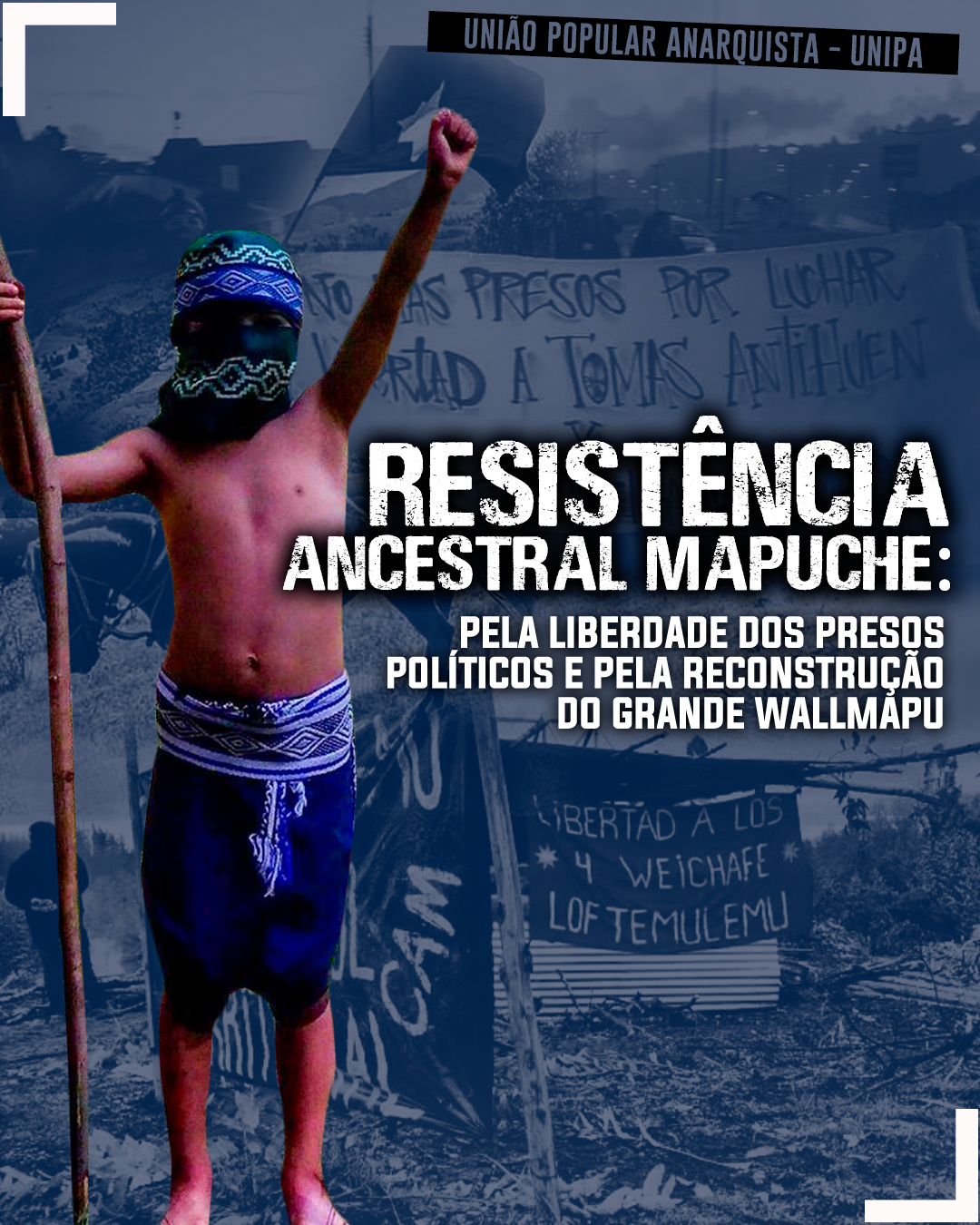Terra e Liberdade!
A Insurreição dos Povos frente ao Colonialismo e aos Impérios
Resoluções do VII Congresso da União Popular Anarquista
Brasil, 2020
Formato para livreto: [Portugês] [Castellano] [Inglês] [Francês] [Colabore com traduções!]
Leia as Resoluções Congressuais da UNIPA: AQUI
Apresentação
O Brasil e o mundo se encontram em um momento chave para a luta de classes e para o aprofundamento de uma política revolucionária e anarquista. Estamos atravessando, desde o local ao global, mudanças de paradigma nas relações de poder e exploração no interior do sistema mundial capitalista, influenciadas diretamente pelas insurgências e lutas proletárias e de libertação nacional desde os anos 1970 e que também influenciam as relações capital-trabalho e Estado-sociedade na atualidade.
Neste século XXI, mais especificamente desde a sua segunda década (pós-crise de 2008), uma série de rebeliões populares e novas formas de ação e organização da classe trabalhadora sacudiram a instabilidade das estruturas imperialistas, colonialistas e monopolistas no interior do sistema mundial. A ascensão e queda de governos de tipo “progressistas” na América Latina (Bolívia, Uruguai, Brasil, Venezuela, Argentina, Paraguai, dentre outros) foram expressões dessas mudanças nas relações de poder, desde o global ao local.
Para compreender a nossa realidade nacional e internacional, para além da mera descrição dos fatos, nossa organização apresenta uma contribuição teórica bakuninista sobre o imperialismo e o colonialismo, bem como sobre a distinção entre as estruturas de neocolonialismo e colonialismo interno que expressam hoje diferentes relações de poder na América Latina. A partir disso, identificamos as mudanças no sistema mundial capitalista desde os anos 1980 que inauguram um novo período da experiência imperial-colonial, o neoimperialismo, que leva a uma nova onda de colonização em escala mundial a partir dos anos 2000, sendo sua expressão mais evidente o acirramento da concorrência interimperialista por terras-territórios, recursos energéticos e regiões/países de influência.
No Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 significaram uma ruptura insurgente da classe trabalhadora brasileira, principalmente do proletariado marginal, com o projeto neodesenvolvimentista e subimperialista dos governos petistas. Juntou-se a isso a posterior queda global dos preços do petróleo, o aumento das greves, a queda das taxas de lucro e a política imperialista norte-americana de impor governos “puro sangue” na América Latina. Esses elementos são essenciais para compreender a crise política que se desenrola com o impeachment de Dilma Roussef e o aprofundamento da agenda liberal-conservadora, clerical e militarista atualmente sob a direção do governo Bolsonaro/Mourão.
No entanto, ao contrário das narrativas elitistas, socialdemocratas ou conservadoras, que negam a agência autônoma do povo e que temem, portanto, a revolta e auto-organização popular, entendemos que essa agenda liberal-conservadora, clerical e militarista não se apresenta como um desdobramento das Jornadas de Junho, mas como sua negação, ou seja, como um projeto contrainsurgente de contrarrevolução preventiva. O projeto genocida e neoliberal em curso no atual governo federal, as suas relações com o imperialismo e colonialismo contemporâneos, bem como as consequências para a linha política e de massas formam o centro dos debates e deliberações do VII Congresso Nacional da União Popular Anarquista.
A União Popular Anarquista, grupo político nacional (GPN) bakuninista, enfrenta o momento político atual com a mesma seriedade e compromisso que manteve durante todos esses anos de existência. Sabemos que cometemos erros, tivemos derrotas e refluxos. Sabemos também que os avanços, apesar de muito importantes, estão ainda longe das metas históricas almejadas por nossa organização. Sabemos que, se não avançarmos mais, esse trabalho pode se perder para a história.
Mas o fundamental é que a UNIPA conseguiu avançar qualitativa e quantitativamente em sua linha política, teórica e de massas. Ainda que humildemente, contribuímos para abrir novos espaços de diálogo e construção a nível nacional e internacional para a organização anarquista, para a teoria anarquista e, principalmente, para o nosso braço de massas. Hoje a tarefa não é ser a direção hegemônica do movimento de massas, mas construir o GPN bakuninista e seu braço de massas, embriões das organizações que serão capazes de fazer a luta pela direção e reorganização estratégica do proletariado e dos povos.
Temos consciência dos desafios e sacrifícios que nos aguardam na construção da revolução social no Brasil, e para isso nos preparamos e nos educamos. Buscamos superar nossas próprias limitações, pois não aceitamos que os anarquistas e revolucionários sejam novamente “vítimas da história”. Nós assumimos a responsabilidade histórica pelos caminhos que escolhemos, com os seus erros e acertos, e estamos determinados a vencer nossas batalhas. Nós queremos a vitória revolucionária do povo, a construção do autogoverno (Congresso do Povo) sustentado em um programa socialista, anticolonial e antipatriarcal. Por isso, nos dedicamos a conhecer a nós mesmos e aos nossos inimigos. Apresentamos a seguir as análises e resoluções políticas do VII Congresso Nacional de nossa organização, realizado em novembro de 2019, com a intenção de que elas contribuam para conhecermos melhor nossa realidade e, com esse conhecimento, construirmos as vias de libertação das massas populares do Brasil.
Este texto, lançado em 28 de maio de 2020, sistematiza o conjunto de resoluções do VII Congresso Nacional da União Popular Anarquista, realizado em novembro de 2019. Após a realização desta instância, a conjuntura se complexificou significativamente devido à pandemia de Covid-19. Para análises deste novo momento, ver os Comunicados Nacionais nº 67, 68, 69 e outros a respeito.
1. Imperialismo e colonialismo: uma abordagem anarquista e revolucionária
Os conceitos de imperialismo e colonialismo são indispensáveis para analisar, desde um ponto de vista anarquista e revolucionário, o sistema mundial capitalista no século XXI. O imperialismo e o colonialismo, como experiência histórica concreta das sociedades, não desapareceram frente as atuais tendências políticas, econômicas e culturais do sistema mundial, mas assumiram novas expressões e mecanismos de dominação e exploração.
Para revitalizar a teoria do imperialismo e do colonialismo é necessário depurar tanto as abordagens economicistas e eurocêntricas, que foram típicas das análises marxistas, quanto as abordagens culturalistas, liberais e genéricas conceitualmente. Além disso, é fundamental a crítica do papel das abordagens (principalmente socialdemocratas e liberais) que negaram a vigência do imperialismo e do colonialismo no século XXI, e confluíram de diferentes maneiras com as discursividades dominantes dos organismos multilaterais, Estados centrais e empresas. O debate em torno do conceito de “globalização”, ainda que tenha tido contribuições, apoiou a mistificação das relações de poder mundiais.
Tais abordagens subestimaram a tendência do sistema capitalista em estabelecer novas hierarquias e relações de dominação e minimizaram os impactos da Guerra Fria, representada pelas guerras irregulares internas e externas. A Guerra do Vietnã e as intervenções da ONU, Inglaterra e França na Ásia e na África ao longo dos anos 1950/70, bem como o desenvolvimento de ditaduras militares e a política de contrainsurgência na América Latina, mostraram que o militarismo e o expansionismo dos países capitalistas centrais não se manifestava apenas sob a forma do colonialismo “clássico” e das guerras totais entre potências.
A maioria das teorias críticas do imperialismo e do colonialismo durante o século XX estavam limitadas pelos contextos particulares de sua elaboração. Tais teorias se constituíram em diálogo e/ou como parte das lutas anticoloniais e movimentos de criação dos Novos Estados, o que fez com que as mesmas assimilassem diversos traços da ideologia nacionalista e a ideia da inevitabilidade do desenvolvimento capitalista, dando um toque eurocêntrico e estatista às suas formulações críticas. Assim, as críticas do imperialismo resultaram, em maior ou menor medida, na defesa de políticas desenvolvimentistas (nas suas variantes nacionalistas e marxistas) ou em políticas de modernização, como expansão da democracia liberal e do mercado mundial (nas suas versões liberais e socialdemocratas).
A teoria crítica do imperialismo que teve maior relevância no século XX foi a teoria leninista. Lênin inaugurou uma ampla tradição teórica em que o imperialismo seria sinônimo de capital monopolista. A principal caraterística dessa abordagem está na ênfase sobre a expansão da acumulação de capital, o processo de integração do mercado mundial e das estruturas produtivas. Classificamos essa abordagem como economicista, já que desconsiderou as determinações das instituições políticas (dos Estados e do sistema interestatal) e socioculturais nas experiências imperiais-coloniais sob o sistema capitalista.
Como decorrência da política comunista soviética para a América Latina, durante quase todo o século XX perdurou a associação entre o conceito de “acumulação primitiva” em Marx com a teoria leninista do imperialismo. A abordagem marxista concebeu os processos de colonização, a expropriação de terras e bens naturais e os regimes de trabalho servil, familiar e escravista como primitivos e antecedentes ao capitalismo. Debatia-se em torno de uma questão dogmática: se essas relações existiam então a economia seria de tipo feudal ou semifeudal, e se, ao contrário, vivemos sob o capitalismo, essas relações colonialistas e “extra econômicas” não existem.
Essa abordagem mistificou um tipo ideal de capitalismo (europeu, inglês), de domínio “absoluto” das relações de trabalho assalariado, industrial, urbano, que sequer existiu. Não explicou a questão central: como o próprio sistema capitalista reproduz constantemente as formas coloniais de dominação e exploração, especialmente na periferia e semiperiferia do sistema. Essa abordagem etapista e eurocêntrica levou, em diversos casos, à defesa de políticas desenvolvimentistas e de conciliação de classes com a ilusão de eliminar os “resquícios pré-capitalistas”.
Já as teorias e políticas socialdemocratas e liberais consideram o imperialismo como um fenômeno opcional ao capitalismo, que se associa ao mesmo por diferentes razões. O centro da tese socialdemocrata é de que o imperialismo é uma política que poderia ser modificada através de reformas nas estruturas econômicas, estatais e culturais. Já a tese liberal defende que o imperialismo é uma patologia pré-capitalista, irracional, que o capitalismo não conseguiu eliminar, e que a eliminação do imperialismo dependeria da expansão dos processos de modernização (institucional, cultural e tecnológica).
A ideia de progresso e, atualmente, de desenvolvimento é uma síntese da pretensão de dominação da natureza, eixo fundamental tanto do liberalismo quanto do marxismo. Dentro desses paradigmas centralistas (antropocentristas, tecnocentristas, etapistas) não se questionou o modelo hegemônico de desenvolvimento técnico (de relação da sociedade com a natureza e, portanto, entre a própria sociedade) e sim a sua desigualdade. O horizonte ilusório era que o tipo de desenvolvimento do centro se expandisse para os países periféricos.
O que devemos ponderar é que a ideologia desenvolvimentista está associada à modernidade, que por sua vez é incompreensível sem o elemento da expansão do colonialismo. Modernizar é, sempre, expandir uma determinada ideia de progresso e, com ela, de colonização dos povos e da natureza. A evolução da tecnologia sob o sistema mundial capitalista não deve, portanto, ser abordada apenas como uma relação da sociedade com a natureza. A ação do capital para controlar a natureza pressupõe o controle do próprio trabalhador e de seus corpos. Daí que as mudanças tecnológicas, mais do que mudanças puramente “técnicas”, implicam em mudanças nas relações de poder. As consequências ecológicas dessa racionalidade desenvolvimentista são observadas hoje com as crises hídricas, expansão descontrolada de doenças (pandemias), extinção de espécies animais e vegetais, crises migratórias, etc.
Assim, é fundamental retomar a crítica do anarquismo ao centralismo (político, econômico e epistemológico). O antropocentrismo, o tecnocentrismo e o cientificismo são expressões de saberes-poderes de dominação da sociedade sobre a natureza, que implica sempre a dominação entre os seres humanos. Bakunin afirmava no século XIX que não existe um centro organizador absoluto do mundo natural e social e que toda tentativa de estabelecê-lo resulta na instituição de relações assimétricas de poder.
Assim, a teoria anarquista traz contribuições à questão do colonialismo e do desenvolvimentismo associada a um novo paradigma emancipatório anticentralista e integral. Um exemplo disso foi a influência do anarquismo na reformulação teórica do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e a sua defesa de um programa anticapitalista, antiestatista, ecológico e feminista.
Assim, a partir da teoria bakuninista, consideramos que o imperialismo, o colonialismo, o estatismo e o monopolismo são quatro tendências e processos históricos globais, que não podem ser reduzidos nem a fenômenos exclusivamente econômicos, nem políticos, nem culturais, pois são multidimensionais. São fenômenos históricos de longa duração, que foram ressignificados pela emergência do sistema mundial capitalista, e pelas transformações nos diferentes regimes de acumulação e de acordo com cada contexto geográfico.
A experiência imperial-colonial é de longa duração, existe desde a antiguidade, passando pelo período medieval e chegando ao moderno-capitalista, e não é uma forma exclusivamente europeia. Essa observação exige cuidados para evitar o anacronismo e o presentismo, que ignora as raízes históricas dos processos contemporâneos, supondo que os mesmos surgem apenas no presente como algo “inovador e singular”.
Bakunin e Proudhon ofereceram uma contribuição fundamental sobre a relação multicausal entre o centralismo econômico, político e epistemológico. Essa abordagem ganha materialidade na tendência global dos Estados ao expansionismo e de formação de Impérios e processos de colonização, bem como a tendência do Capital ao monopolismo e a estratificação territorial e social dos regimes de exploração, tanto em escala nacional como internacional, que gera a superexploração do trabalho e a formação de um proletariado e campesinato marginalizados e uma aristocracia operária (e “pequena burguesia rural”) no interior da classe trabalhadora.
Assim, para a teoria bakuninista, o imperialismo é o processo e a política pelos quais determinadas sociedades estatais subordinam e englobam outras sociedades e territórios, constituindo assim os Impérios, como o topo de uma hierarquia regional ou mundial. O imperialismo é gerado pela tendência dos Estados a lutarem entre si e constituírem uma relação e sistema de poder assimétrica.
O imperialismo contemporâneo, engendrado pelo sistema mundial capitalista, foi a síntese contraditória das tendências inerentes do estatismo (de se expandir e conquistar pela guerra), reforçadas e relativamente subordinadas pela tendência monopolista (de acumulação de capital e o controle dos fatores de produção e circulação) própria do capitalismo.
Logo, é impossível um sistema capitalista sem imperialismo, pois mesmo que a economia capitalista não tivesse essa tendência monopolista, as pressões rumo ao imperialismo não são só econômicas, mas oriundas do próprio estatismo. Por fim, essas tendências convergem no colonialismo, que é um fenômeno global e multidimensional em que determinadas sociedades e territórios são transformados em colônias de Estados e Impérios.
O imperialismo contemporâneo, como fenômeno global, é um processo e sistema multidimensional (social, político, econômico e cultural-simbólico) que entrecruza múltiplas hierarquias. Podemos dizer que essas hierarquias operam no nível externo e interno, internacional e nacional/local. Destacamos aqui as principais hierarquias do imperialismo-colonialismo que perpassam as dinâmicas global/local:
1) Hierarquias políticas: a diferenciação centro-periferia e a existência de poderes tutelares sobre povos e territórios. Tal hierarquia comporta variadas formas de regimes de governo, sendo uma forma de gestão de territórios e populações centrada na existência de um centro de poder decisório que estabelece (ou tenta) os níveis de liberdade e participação dos governados na estrutura política, preservando para si mesmo a capacidade de decisões estratégicas em nome de uma missão civilizatória.
2) Hierarquias econômicas: as relações de centro-periferia, no plano econômico, se manifestam não apenas na distinção entre países desenvolvidos/subdesenvolvidos (diferentes níveis de capacidade produtiva, comercial, tecnológica, de investimento), mas na existência de um duplo mercado de trabalho internacional e nacional. Essas hierarquias se expressam também no acesso desigual a recursos naturais (recursos territoriais, hídricos, florestais etc.) e na tendência de superexploração do trabalho e da natureza.
3) Hierarquias sociais e simbólico-culturais: se expressam num sistema de classes e num sistema de estratificação étnico-cultural e de gênero, no qual os grupos sociais são hierarquizados em função de identidades e grupos diferenciados. As hierarquias econômicas e políticas supõem a existência de grupos sociais hierarquicamente organizados. Essas hierarquias produzem tanto discursividades e formas de violência simbólica (racismo, etnocentrismo, machismo, projeto de dominação da natureza) quanto formas de organização social que atribuem aos grupos sociais posições na hierarquia econômica e política, ou ainda justificando-as em função de discursos ideológicos de legitimação.
Assim, essas hierarquias estão entrecruzadas entre si em um sistema global de dominação e exploração, de modo que é impossível estabelecer uma fronteira rígida e absoluta entre elas. Isso é importante para combater os desvios de particularismo absoluto em abordagens pós-modernas, e de universalismo absoluto-centralista em abordagens marxistas. Além disso, existe uma abordagem “interseccional” que tampouco rompeu com a análise de blocos rígidos de “opressões” e se tornou, na maioria dos casos, uma política de hierarquização, classificação e divisão entre os oprimidos.
Já a colonização é o processo de ocupação territorial de sociedades “X” por uma sociedade “Y” (exterior àqueles territórios). Desse modo, a colonização é um processo histórico de territorialização. A colonização é o embrião do colonialismo. Para a teoria anarquista, a principal característica do Colonialismo é a centralização global do poder:
1) do poder político, gerando uma centralização das funções de governo e representação em grupos e classes exteriores aos territórios ocupados;
2) do poder econômico, através da concentração dos recursos e da exploração ou subordinação do trabalho, gerando o monopolismo;
3) do poder simbólico (social e cultural), produzindo apenas identidades negativas, genéricas, que agrupam a população colonizada a partir da visão e dos interesses do colonizador, o que gera o etnocentrismo.
Os processos atuais de colonização não podem ser compreendidos no sentido atribuído pelo marxismo com o conceito de “acumulação primitiva”, segundo o qual esses processos criariam as precondições do capitalismo. Isso porque não representam transições entre modos de produção. Muitas vezes, têm muito pouco a ver com a agricultura em si, e a expropriação das terras em alguns casos ocorre em prol de um desenvolvimento não agrícola.
Assim, os processos de colonização não refletem uma fase inicial do capitalismo, mas as reivindicações capitalistas avançadas por terras, recursos naturais e energéticos assumem uma variedade de formas específicas – como represas, estradas, minas, usinas siderúrgicas, zonas econômicas especiais ou projetos de habitação. A colonização precisa ser compreendida, portanto, por uma nova abordagem: a questão não é a sua função na transição para o capitalismo, mas no próprio sistema capitalista.
Essa expropriação da terra (seja pela compra, arrendamento, grilagem, pilhagem, mas sempre com a imposição da propriedade privada como relação e status superior às demais formas de ocupação da terra e relações com a natureza) é acompanhada pelo processo mundial de incorporação de outras esferas da natureza ao mercado (patenteamento de material genético de sementes, de conhecimentos ecológicos, etc.). As políticas neoliberais de privatizações de serviços públicos (educação, saúde, segurança, etc.) são também uma outra forma de impor a lógica mercantilista com o intuito de liberar um conjunto de ativos em que o capital sobreacumulado encontre meios lucrativos para investir.
Esse elemento é fundamental para compreender a relação entre o colonialismo e o imperialismo contemporâneos, com a imposição de políticas neoliberais que expandem a privatização e a mercantilização dos bens coletivos/públicos anteriormente não integrados às cadeias mercantis e aos processos de acumulação ultramonopolistas.
1.1 As transformações do imperialismo e colonialismo modernos
O imperialismo se transforma profundamente no século XX, de modo que podemos diferenciar duas situações históricas: a do imperialismo capitalista clássico (1890-1980) e a que vivemos atualmente, que podemos denominar de neoimperialismo (1980-2019). Podemos dizer que a principal mudança será a ascensão e queda do colonialismo internacional na periferia e semiperiferia global, seguida pela generalização da dependência com forma de dominação no sistema mundial.
A experiência imperial-colonial engendrada pelo sistema mundial capitalista pode ser subdivida em dois grandes períodos:
1º) o ciclo de conquista da América, a construção do primeiro Sistema Colonial interoceânico (1500-1800), que foi seguido pelo primeiro ciclo de descolonização com a destruição do sistema colonial no século XIX e a construção da primeira onda de Novos Estados na América Latina;
2º) o ciclo de construção do Sistema Colonial (1820-1910), com a partilha da Ásia e da África, motivada pela expansão do capitalismo monopolista e das disputas pela hegemonia no sistema interestatal, seguida pela descolonização do período 1945-1970 e a segunda onda de criação de “Novos Estados”.
Enquanto processos históricos modernos, podemos distinguir três tipos de colonialismo: o colonialismo internacional (típico dos séculos XVI até o século XX), o colonialismo interno e o neocolonialismo, que seriam variações históricas das relações de dependência que sucederam os processos de descolonização latino-americano, africano e asiático.
Sem corresponder a etapas ou períodos históricos subsequentes (típicos de uma interpretação linear, evolucionista), essas formas de colonialismo são resultantes da dinâmica concreta do imperialismo capitalista, bem como das resistências, insurgências e revoluções. Portanto, não é de se surpreender que aspectos do colonialismo clássico e das atuais relações de dependência se interpenetrem e se sobreponham de acordo com diferentes tempos e geografias.
Além disso, o efeito das descolonizações (seja por revoluções ou reformas) não podem ser menosprezados como simples processos “formais”, já que significaram mudanças profundas nas relações de poder em cada país e no sistema mundial capitalista e interestatal.
Dessa forma, o imperialismo contemporâneo, sob a forma da dependência, gera processos de colonização centrados no estabelecimento do controle de parcelas de terra-território e bens públicos e naturais, com a consequente tendência estatista-monopolista-etnocêntrica que acompanha os processos de colonização. Mas isso não corre (ao menos não hegemonicamente) através da ocupação militar estrangeira, típica do período de colonialismo internacional “clássico”.
Para compreender a atual experiência colonial, marcada pelas relações gerais de dependência, consideramos que esta se manifesta na América Latina sob as formas de neocolonialismo e colonialismo interno. Apesar de limitações oriundas das diferentes abordagens, as reflexões sobre o colonialismo interno tiveram o grande mérito de evidenciar as relações desiguais, étnicoculturais e de classe, dentro dos Estados independentes, bem como as relações de dependência externa, engendradas pelo imperialismo, que condicionam desigualdades regionais e setoriais nos países periféricos. Isso implicou uma relação dos “Novos Estados” e das classes dominantes locais com suas populações camponesas, indígenas e negras que reproduz muitas das características da relação metrópole-colônia.
O conceito de colonialismo interno serve para descrever uma situação histórica particular onde os Novos Estados possuem burguesias relativamente fortes, ou seja, que realizaram acumulação de capital local e nacional em associação com o capital estrangeiro. Os Novos Estados são dotados de uma autonomia governamental muito maior, em que as classes dominantes nacionais têm grande poder e protagonismo. A figura do colonizador estrangeiro desaparece e surge então uma nova categoria social, uma burguesia mestiça ou eurodescendente que pretende ser a materialização da “Nação”, ou melhor, do Estado-Nação.
Esse processo se deu em diversos países latino-americanos com a emergência das figuras do Ladino e do Criollo, ou então com burguesias eurodescendentes (como no Brasil, Chile e Argentina). Os processos de colonização passaram a ser protagonizados por essa classe. As identidades e relações sociais do antigo colonizador são incorporadas nas identidades de patrão-proprietário e governante nacional (agora eurodescendente ou mestiço) e as do antigo colonizado nas de proletário-camponês e governado.
O neocolonialismo é uma situação histórica na qual a burguesia local é fraca e a política dos Novos Estados continua sendo determinada de fora. Na dimensão nacional, supõe uma classe dominante com baixo capital. Além disso, essas classes dominantes são normalmente oriundas dos grupos étnicos que estabeleceram relações privilegiadas no antigo sistema colonial. A fraqueza relativa do Estado e do capital local exigem a presença do capital estrangeiro, que assume a direção dos processos de colonização e seus rumos políticos.
O neocolonialismo não é um mero prolongamento do colonialismo internacional “clássico”, pois mesmo que haja uma burguesia nacional relativamente fraca, esta ainda aparece como o topo da hierarquia social nos Novos estados, e não o “colonizador estrangeiro”. Desse modo, o conflito colonizador/colonizado dá lugar um conflito interétnico interno. Além disso, a autonomia relativa local pluraliza o investimento estrangeiro, diversificando as formas de colonização internacional em cada país. Logo, as contradições sociais e de classe, sob o neocolonialismo, mudam substancialmente.
O imperialismo na América Latina, assentado em estruturas de colonialismo interno e neocolonialismo, reproduz de forma específica o etnocentrismo-racismo como instrumento de poder-saber. O fato principal é que as novas burguesias mestiças ou brancas, minoritárias no interior do país, não buscam a supremacia e a exploração sobre populações exteriores ao território nacional, mas são levadas a relações conflituosas de dominação-resistência com a sua própria população nacional, majoritariamente indígena, negra ou mestiça.
A inserção dependente dessas burguesias no interior das relações assimétricas de poder mundial tampouco garante a possibilidade de um “Estado de bem-estar social” generalizado (isso só foi possível aos países capitalistas europeus, inclusive em regimes fascistas, graças a sua posição central no sistema imperial-colonial). Assim, na América Latina a questão nacional e o nacionalismo como política (dos dominantes ou dominados) é estruturalmente diferente dos modelos europeus e, por consequência, são diferentes as formas como se expressam aqui a contrarrevolução burguesa (particularmente relevante no debate atual sobre fascismo ou ditadura) e as tarefas anticoloniais e anti-imperialistas da revolução brasileira.
1.2 Neoimperialismo e nova onda global de colonização: as contradições atuais no sistema mundial capitalista
Os processos de descolonização latinoamericano, africano e asiático impactaram profundamente as hierarquias econômicas, políticas e culturais em distintas escalas, desde o global ao local. No entanto, as relações de poder assimétricas no sistema mundial capitalista permaneceram. Dessa forma, desde os anos 1980 estamos vivendo mundialmente as características do neoimperialismo.
O neoimperialismo é fruto de mudanças nas relações globais de poder, apresentando novos aspectos relacionados às instituições políticas, econômicas e às ideologias legitimadoras da missão civilizatória do capital. Essas novas relações de poder imperialistas se relacionam diretamente com as relações de produção macro e microeconômicas próprias ao ultramonopolismo. Isso se refletirá em uma reorganização dos organismos internacionais, empresas e Estados.
Essa nova situação está relacionada a um processo de descentralização e desconcentração (relativos) do poder nos anos 80. Na América Latina, esse processo ocorreu com a onda de redemocratização burguesa (fim das ditaduras, políticas participacionistas, etc), e na África e Ásia com os processos de descolonização. Também na Europa, influenciadas pelo Maio de 68 francês, novas demandas sociais, políticas e ambientais emergem e influenciam as relações mundiais de poder. Ao contrário do que diz o elitismo epistemológico, as insurgências populares no centro e na periferia do sistema capitalista foram e são forças agentes na história.
Mas esses processos são, em grande medida, assimilados sistemicamente, ou seja, recebem como resposta uma contra-estratégia burguesa-imperial para a manutenção das relações assimétricas de poder baseada na instrumentalização das novas discursividades e demandas advindas das reivindicações feministas, ambientalistas, anticoloniais, democráticas, pacifistas, antidiscriminatórias, etc.
Dessa forma, os principais enunciados e narrativas que marcam o neoimperialismo são o ambientalismo, o multiculturalismo e o democratismo. Essas narrativas passaram a ser os critérios de validação/legitimação global, o fetiche por meio do qual o imperialismo concebeu sua missão civilizatória e passou a condicionar os regimes discursivos dos Estados nacionais, suas formas de controle territorial e populacional e das instituições econômicas.
A “democracia” como ideologia legitimadora, por exemplo, aparece vinculada aos discursos liberais tanto em âmbito social e político, através de referendos e constituintes, quanto econômicos, com as tecnologias de cogestão e empreendedorismo e, em termos culturais, com o multiculturalismo. O regime discursivo do neoimperialismo é substancialmente diferente do imperialismo clássico e comporta ambiguidades e contradições específicas.
No período de desenvolvimento do neoimperialismo, da década de 1980 até os anos 2000, essas discursividades foram se estabelecendo de forma contraditória, especialmente por meio da integração sistêmica de movimentos anticoloniais, sindicais, populares, ambientalistas e da incorporação de lutas antidiscriminatórias às institucionalidades de governos e empresas.
Ainda outro dos aspectos que emergem a partir dos anos 1980 é a reterritorialização de determinadas coletividades ou mesmo a retomada do controle estatal e “nacional” de terras e territórios. Isso pode ser visto de forma mais clara com os processos de descolonização africana em que a dominação imperialista teve que assumir nova roupagem, mas também visível em outras políticas de demarcação de reservas ambientais, indígenas e de reforma agrária.
A nova estruturação do sistema mundial capitalista, sob o neoimperialismo, não fez desaparecer as relações de dominação internacional, mas as transformou significativamente. As resistências anticoloniais, antiditatoriais e ambientalistas em escala global criaram um novo balanceamento de forças e de poder.
A partir dos anos 2000 e principalmente após a crise de 2008, junto a uma série de fatores (como a Nova Guerra Fria e o boom das commodities agrominerais e energéticas), surge como agenda para as classes dominantes e Estados a necessidade de retomar os territórios “perdidos”, se (re)apropriando de terras e recursos naturais e energéticos, principalmente na periferia e semiperiferia global. Dessa demanda, própria da tendência expansionista-monopolista dos Estados e do capital, emerge uma nova onda global de colonização.
Diversas linhas teóricas e políticas tem debatido a nova onda (ou ciclo) de apropriação de terras e territórios em escala global a partir dos anos 2000, principalmente sob as noções de land grabbing ou, no caso latino-americano, de neoextrativismo. No entanto, é importante caracterizar esse processo como uma nova onda de colonização, com vistas a compreender a atual disputa e apropriação de terras e territórios dentro de uma teoria geral do imperialismo e do colonialismo contemporâneos, e não com uma abordagem meramente descritiva e/ou economicista típica dos organismos internacionais e acadêmicos.
É fundamental salientar que a nova onda colonialista global emerge no interior das relações de poder do neoimperialismo. No entanto, sua tendência contraditória é erodir paulatinamente as estruturas políticas, econômicas e discursivas deste. O impulso colonialista global, combinado com o acirramento geopolítico da nova guerra fria, tem levado ao questionamento sistemático dos pressupostos neoimperiais, dos organismos multilateriais, do democratismo, do ambientalismo, etc. Esse é um processo que carrega em si o reforço geral do princípio da autoridade sobre o princípio da liberdade.
As guerras de ocupação do Afeganistão (2001), Iraque (2003) e, a partir da segunda década deste século, os processos políticos no norte da África e Oriente Médio (com destaque para a Líbia e Síria em 2011) levaram à construção de um sistema de colonialismo internacional muito próximo ao do período do imperialismo clássico. No entanto, essa forma de colonialismo não se demonstrou como hegemônica, já que no Brasil e na América Latina o colonialismo se expressou, a partir do século XXI, através de estruturas de colonialismo interno e neocolonialismo. No Brasil, por exemplo, o projeto neodesenvolvimentista implementado pelo bloco no poder a partir de 2003 foi a expressão política desse processo.
Caracterizando melhor a nova onda de colonização, segundo dados da Grain (2016), entre 2006 e 2016, foram mapeados mais de 491 casos de apropriação internacional de terras, nos quais pelo menos 30 milhões de hectares foram apropriados em 78 países. Essa corrida global por terras, água, minérios e energia foi fortemente impulsionada pelo chamado “boom das commodities”, ou seja, uma forte demanda global e elevação significativa dos preços das mercadorias agrominerais e energéticas no mercado internacional.
Em relação à África, um ano após a crise de 2008, a FAO e o Banco Mundial publicaram uma pesquisa intitulada “Despertando o gigante adormecido da África: perspectivas para a Agricultura Comercial na Zona de Savana da Guiné e Além”, segundo a qual, a região da Savana da Guiné, onde se localizam 25 Estados nacionais, teria um potencial agrícola de 400 milhões de hectares agricultáveis, dos quais só 10% estariam sendo de fato explorados, ou seja, inseridos nas cadeias mercantis capitalistas. O mesmo estudo indicou que o modelo “exitoso” de exploração agrícola adotado no cerrado brasileiro nas últimas décadas deveria ser utilizado como o exemplo a ser seguido na África. Assim, o Brasil, assim como a China, EUA e outras potências imperiais, será protagonista da ofensiva colonialista na África de diferentes formas.
O colonialismo e o imperialismo se integram e se apoiam nas estruturas do poder patriarcal e lançam suas garras de dominação e exploração sobre os corpos das mulheres do povo. Os corpos femininos são “territórios” a serem controlados e mercantilizados nas novas estruturas do poder imperial-colonial. Esse processo não se reduz à venda da força de trabalho das mulheres, apesar desta ser central. O controle e mercantilização dos corpos femininos também se dá pela imposição da lógica mercantil sobre as práticas naturais e culturais antes não incorporadas às cadeias de acumulação capitalista, tais como amamentação, menstruação, reprodução, prazer sexual, fecundação, gestação, parto, criação dos filhos, dentre outras, que se tornam novos nichos de mercado e alvos do controle e “planejamento” estatal.
A expropriação das diversas práticas, territórios e saberes femininos e societários de reprodução das condições de existência e, portanto, de relações com a natureza, para a imposição (de cima e de fora) de uma única relação de poder dominante e exploradora, é uma das marcas do colonialismo. Assim, a ofensiva patriarcal se integra sistemicamente às tendências etnocêntricas-racistas, monopolistas e estatistas contemporâneas.
Como afirmamos no VI Conunipa, esse processo de dominação se aprofunda hoje tanto sob a face da reação conservadora quanto sob a face de um feminismo pequeno-burguês e pós-moderno e de um feminismo imperial. Todos confluem para políticas de mercantilização e controle do Estado e do Mercado sobre as mulheres, ora em nome da “libertação” ora da “tradição”. A ideologia imperial de expansão da “democracia ocidental” na Ásia, África e América Latina é a principal face etnocêntrica-racista desses “tipos” de feminismo. Mas, inerentes à contradição entre dominação e resistência, emergem nas lutas proletárias e camponesas um feminismo classista e revolucionário que é preciso desenvolver como parte indissociável das lutas revolucionários dos povos.
A nova onda de colonização também recebe impulso pela intensificação das políticas e narrativas de guerra ao narcotráfico e ao terrorismo, especialmente após 11 de setembro de 2001. O alvo dessas políticas foram as populações camponesas, originárias e marginalizadas dos centros urbanos e seu objetivo foi a desarticulação de sistemas de poder locais e nacionais com vistas a expandir a apropriação de parcelas de terras-territórios e recursos energéticos pelo capital. Essas guerras não destruíram o narcotráfico, os paramilitares ou o terrorismo e, ao contrário, criaram novas articulações com eles, de acordo aos interesses imperiais-coloniais envolvidos (o caso das “milícias” no Brasil é emblemático).
Essa política de guerra interna ou externa dos Estados é o colonialismo, e visa não somente o controle de fatores de produção e circulação, mas também das próprias populações e suas resistências. Aprofunda narrativas etnocentricas-racistas, tal como a islamofobia e a supremacia branca, que foram e são instrumentos fundamentais de contrainsurgência. Em torno de enunciados como a “democracia ameaçada” se praticou e pratica a pilhagem moderna, as torturas, o encarceramento, a mercantilização, a privatização de recursos e territórios e o genocídio.
Com a agudização da luta de classes a nível internacional e das disputas interimperialistas, há, na América Latina, um aprofundamento das políticas e ideologias de guerra ao narcotráfico ou ao terrorismo, tal como no Brasil (lei antiterrorista de 2016, pacote anti-crime em 2019) e no Chile (criação das leis anti-barricada e anti-saque em 2020, e particularmente a política “antiterrorista” contra os Mapuche).
Por fim, a nova onda global de colonização sob o regime de acumulação ultramonopolista é impulsionada por profundas transformações tecnológicas, não apenas nas relações de produção e distribuição, mas também nas tecnologias militares, jurídicas e de comunicação. Todas elas, integradas ao sistema mundial capitalista, implicam o aprofundamento das relações de dominação e exploração sobre os povos e a natureza.
Na escala macro, por exemplo, vemos tecnologias cada vez mais sofisticadas de sensoreamento remoto, como imagens de satélite e aparelhos de localização, que aplicadas ao militarismo e controle social representam uma assimetria imensa de conhecimento-poder sobre os territórios. Na escala micro, podemos ressaltar os campos da genética, biofísica, nanotencologia, física nuclear e robótica, penetrando cada vez mais no âmago e atingindo níveis absurdos de fragmentação da matéria.
A mineração e a agricultura capitalista, por exemplo, têm sido profundamente impactadas pelas novas tecnológicas. Os conhecimentos científicos e industriais “de ponta”, com escalas nano, micro, molecular e atômica, tem isolado e trabalhado com substâncias químicas “puras”, possibilitando usos “multifuncionais”, fazendo com que uma mesma substância química seja usada da produção de alimentos à fabricação de ligas metálicas. O avanço das sementes transgênicas e agrotóxicos tem ampliado o número de doenças, a destruição dos solos e a dependência do campesinato ao pacote tecnológico. Assim, a descoberta acelerada de novos materiais (e novos usos para antigos) em territórios antes marginalizados e desinteressantes ao capital (e onde muitos povos se refugiaram de processos expropriatórios anteriores) entram hoje na mira do colonialismo.
Outra questão fundamental é o futuro do trabalho e dos trabalhadores com a indústria 4.0. A expectativa da agência Ernst & Young é de que, em breve, um a cada três postos de trabalho deve ser substituído por tecnologia inteligente. Já a consultoria McKinsey & Company afirma que 800 milhões de trabalhadores podem perder seus empregos até 2030 em decorrência das mudanças tecnológicas. Assim, um terço dos trabalhos atuais podem ser automatizados, como caixas de supermercados, telemarketing, caixa de bancos e outros.
No centro do capitalismo, EUA e Alemanha tendem a ter de 23% a 24% dos empregos impactados diretamente com a automação. No Japão, pode chegar a 26%. Já na periferia essa tendência não seria tão acentuada: na Índia o impacto seria em 9% e no Brasil, 15%. Há uma tendência de redução no percentual de trabalhadores dessas profissões e um aumento na demanda de trabalhadores nas profissões de tecnologias da informação, relacionada ao crescimento da informalidade. Hoje, cerca de 2 bilhões – 61%, da força de trabalho mundial – vivem do trabalho informal (em geral, mulheres, jovens, imigrantes, negros e indígenas).
1.3 O aprofundamento da nova guerra fria e a crise da hegemonia norte-americana
A crise internacional de 2008 produziu a desarticulação dos arranjos políticos nacionais no mundo todo, fazendo ascender um novo ciclo mundial de lutas sociais, ampliando as disputas interimperialistas e, ao mesmo tempo, colocando a extrema-direita como força ascendente. O pano de fundo geral desse processo é a ofensiva pela apropriação de terras, recursos energéticos, minerais, ou seja, a nova onda mundial de colonização. No Brasil, os efeitos da crise de 2008 foram sentidos inicialmente como um impulso para o projeto neoextrativista e neodesenvolvimentista, com vultuosos investimentos do capital estrangeiro.
A dissolução da URSS e do “bloco socialista”, nos anos 1990, faz parte das novas relações de poder instituídas pelo neoimperialismo. Naquele momento a hegemonia norte-americana alcançou o seu auge, garantindo uma década de poder unilateral, sob o signo imperial-colonial da “Pax Americana”. Esse período, no entanto, começará a modificar-se, evoluindo para o que caracterizamos como uma Nova Guerra Fria, expressa na polarização EUA-U.E x Rússia-China, acirrada pela nova onda mundial de colonização. Em que pese o hábito de analisar ideologicamente a atual guerra fria (com anacronismos que reproduzem “capitalismo x socialismo”), ela não tem essa característica. Representa a disputa de dois modelos distintos de desenvolvimento do capitalismo e poder imperial.
Em 2017, na gestão Trump, os EUA lançaram um documento chamado Nova Estratégia de Segurança Nacional. Neste, definem seus interesses nacionais e objetivos estratégicos. Entre os pontos abordados, reconhecem que seus valores nacionais não são universais e abrem mão da conversão messiânica dos povos aos chamados “valores ocidentais”. Abrir mão da universalidade moral não significa abrir mão do seu poder global sustentado pelo seu império militar. Essa mudança lhes permite um maior pragmatismo nas negociações globais, tendo seus “interesses nacionais” como única bússola, podendo negociar qualquer coisa, com qualquer membro do sistema, sempre a partir de seus interesses e de uma “posição de força”.
Essa reorientação política do imperialismo norte-americano está vinculada à ascensão de uma nova extrema direita no ocidente(Ucrânia, Grécia, EUA, Brasil, Itália e outros), fruto das recentes crises do capital e, consequentemente, dos enunciados civilizatórios anteriores do neoimperialismo. Apesar da ascensão da extrema direita ser influenciada pelo desenvolvimento e crises do sistema mundial capitalista, ela não pode ser explicada apenas nessa escala sem cair num centralismo epistemológico.
As condições históricas da luta de classes em cada país, o papel das burguesias locais, bem como das forças coletivas do proletariado, são fundamentais para entender esse ascenso. Sem isso, os entendimentos facilmente reproduzem uma interpretação mistificadora do “imperialismo” ou das “forças globais”, manipulada nas narrativas socialdemocratas e reformistas, como tem sido feito no Brasil.
Outro elemento sobre a ascensão da extrema direita e do neofascismo no ocidente é que esta apresenta características distintas que dificultam uma aliança orgânica entre si. Citaremos duas contradições principais: 1) a contradição entre o antissemitismo da extrema direita europeia e o sionismo/neopentecostalismo da extrema direita dos EUA e América Latina; 2) O programa “antineoliberal” e de “estado de bem-estar” (só para os “nacionais”) por parte da extrema direita europeia assentado na retomada de uma política internacional expansionista e colonial, contrasta com o programa da extrema direita dos países periféricos, baseado em privatizações, subserviência à divisão internacional do trabalho e por isso mesmo, tem muito pouco a oferecer à classe trabalhadora nacional senão o aprofundamento conservador das políticas de colonialismo interno (militarismo, clericalismo, extrativismo) para o benefício da burguesa nacional e internacional. Essas contradições de caráter moral e de posição no sistema mundial não tem, no entanto, impedido a aproximação, intercâmbio e reforço de posições entre a extrema direita.
Assim, frente a nova guerra fria e a nova onda de colonização, o imperialismo norte-americano vem abdicando paulatinamente dos pressupostos universalistas do neoimperialismo (multiculturalismo, democratismo, ambientalismo, elementos em grande medida identificados como “globalismo”) para adotar uma postura cada vez mais pragmática em termos “nacionais”. Isso ocorre por que há uma tendência de declínio da hegemonia norte-americana no sistema mundial. Esse declínio é o que impulsiona a nova estratégia, mais agressiva em termos imperiais-coloniais, para combater a ascensão do bloco sino-russo.
A hegemonia norte-americana e o sistema-mundo construído em torno dela estão em declínio, e a sua queda é possível e até provável. No entanto, esse não é um caminho linear. Cabe a nós analisar quais os principais aspectos dessa transformação, e se ela de fato resultará em uma nova ordem mundial ou no prolongamento mais ou menos extenso de uma situação de caos sistêmico, guerras, ditaduras, e, como diz Arrighi e Silver (2011) “destruição mútua das civilizações mundiais”. As possibilidades de construir alternativas, desde um ponto de vista proletário e revolucionário, dependem da expansão e articulação de ferramentas organizativas e políticas que enfrentem (desde o local ao global) a crise do capital e dos Estados, e as transforme em transformação revolucionária.
Assim, para compreender a conjuntura internacional, perceber o papel cumprido pela China é fundamental. Mais especificamente o da revolução industrial e tecnológica chinesa, a emergência das tecnologias de poder político-econômico do modelo de capitalismo de Estado minimalista e a política estratégica de integração Euroasiática (Ásia + Europa). O fato é que a crise hegemônica do sistema mundial centrado nos EUA e Europa ocidental não ocorre por si só. Ela é acompanha pelo avanço do projeto imperial do bloco sino-russo.
O “projeto” imperial da China e da Rússia possui raízes milenares, assim como as resistências dos povos contra esse projeto. Desde o fim da I Guerra Fria, podemos dizer que esse projeto se desenvolveu em paralelo às estruturas discursivas e institucionais do neoimperialismo sob hegemonia norte-americana e europeia. Tanto a China como a Rússia nunca assumiram plenamente os pressupostos de poder-saber do neoimperialismo (democratismo, ambientalismo, multiculturalismo), ainda que tenham se inserido plenamente na economia mundial capitalista para fortalecer seu poder regional e mundial.
Essa particularidade do modelo de desenvolvimento de um capitalismo de Estado minimalista, de outras discursividades e enunciados civilizatórios, assim como de tecnologias de poder político particularmente autoritárias, têm sido utilizados sistematicamente a favor do bloco China-Rússia. Dessa forma, a crise atual da hegemônia norte-americana tem atingido de forma muito diferente esse bloco. Ela tem se apresentando como oportunidade de penetração do seu “modelo” em cada região e, num cenário futuro, como potencial reorganizador do sistema mundial capitalista-imperialista. Mas isso não se dará sem conflitos.
A nova guerra fria e a nova onda global de colonização colocam uma situação de (relativo) equilíbrio de poder entre potências imperialistas (seja EUA-UE ou China-Rússia) e a necessidade de intensificação das disputas irregulares, indiretas ou híbridas, em termos político-militares ou por recursos naturais e força de trabalho. Isso têm intensificado a disputa sobre regiões na América Latina, Oriente Médio e Europa. Todas essas regiões estão sob forte pressão dos dois blocos, liderados por EUA e China. Para aprofundar seu poder, os blocos precisam operar mecanismos de destruição-criação de arranjos políticos locais e regionais.
A União Europeia é um exemplo, pois vem sofrendo forte pressão, no sentido de sua desestruturação, de ambos os blocos imperialistas. Eles têm estimulado políticas basicamente em dois sentidos: 1º) apoiar partidos/movimentos “anti-UE” e de extrema direita/conservadores; 2º) disputar a influência econômica e energética sobre as potências da UE, especialmente a Alemanha. Em relação ao segundo ponto, um projeto estratégico é a construção do gasoduto “Nord Stream 2” no mar Báltico, que dobrará o volume de gás natural da Rússia para Alemanha, ampliando o poder de ambos países na Europa.
A periferia e semiperiferia do capitalismo também se tornaram alvos centrais das disputas imperialistas, que se traduzem em diferentes políticas neocolonias, de colonialismo interno e, em menos casos, de ocupação militar estrangeira. Isso tem levado à reativação da ideologia de contrainsurgência nos Estados latino-americanos e golpes/desestabilizações políticas na região (vide o caso de Honduras, Paraguai, Venezuela, Haiti, Chile e outros).
Assim, existe uma ligação sistêmica entre os recursos energéticos em disputa no Oriente Médio e na América Latina, já que Venezuela (maior reserva de petróleo do mundo) e Brasil (especialmente após a descoberta do Pré-Sal) poderiam garantir uma apropriação do petróleo por parte dos EUA de forma menos onerosa do que o atual modelo de ocupação colonial do Iraque e Afeganistão. É certo que um cenário de retração da presença norte-americana no Oriente Médio levaria a uma inevitável pressão “total” sobre a América Latina (reforçando o “América para os americanos”).
Além disso, as funções das bases militares dos EUA no Oriente Médio vão além do roubo de recursos energéticos, pois é também uma estratégia geopolítica de combate permanente ao projeto imperial sino-russo na região (o assassinato do líder militar do Irã, Qasem Soleimani, em janeiro de 2019 é um exemplo), o que torna a decisão de retirada das tropas permeada por pressões e contradições dentro do próprio EUA.
No Oriente Médio, China e Rússia cumprem papéis diferentes, mas complementares. A Rússia possui uma presença mais significativa nas articulações militares e geopolíticas (diplomacias oficiais e ocultas) com Estados (Irã, Síria, Turquia, etc.) e forças político-militares partidárias, tal como o Hezbollah. Além disso, tem aprofundado a parceria com a Turquia (ainda que instável pela posição de Erdogan contra Bashar Al Assad), com oferta do apoio militar russo contra a revolução social em Rojava e a construção de um mega-gasoduto “TurkStream” ligando Rússia-Turquia e integrando outros países (Bulgária, Sérvia, Hungría, etc.). Já a China possui um papel mais voltado para a construção de bases econômicas (infraestrutura, integração, energia, tecnologia, etc.) na Ásia e no mundo.
China e Rússia confluem no projeto estratégico imperial-colonial da integração política, econômica e social da Eurásia. O articular de tal projeto é a Iniciativa do Cinturão e Rota, apresentada em 2013 pela China, e chamada de “nova rota da seda”. O nome carrega todo um simbolismo histórico, de um momento em que a China era o centro da economia da Eurásia há mais de 2000 anos. Retomar essa noção implica a reativação de uma narrativa do “sonho (imperial) chinês”, de sua missão civilizatória. A nova rota da seda já está em andamento, e o prazo do governo chinês para a finalização é 2049, ano do centenário da revolução chinesa e, segundo a narrativa do imperialismo chinês, o início de uma “nova fase na história”.
O investimento chinês no mundo tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Entre 2005 e 2018, a China esteve presente nos cinco continentes e investiu cerca de US$ 1,9 trilhão. Isso equivale a 13 vezes o valor do Plano Marshall durante a I Guerra Fria. Como parte estratégica desses investimentos, a nova rota da seda consiste em um plano integrado nas áreas de transporte, infraestrutura e energia, implicando o desenvolvimento colonial-capitalista da exploração e dominação das populações locais, das terras, águas e demais recursos naturais.
Esses investimentos capitalistas são tanto terrestres, conectando a Europa, a Ásia e a África (regiões de extrema importância geopolítica) quanto marítimos, passando pelo Oceano Pacífico, atravessando o Oceano Índico e alcançando o mar Mediterrâneo. Além disso, pressupõe articulação com outros planos regionais, tal como o IIRSA na América do Sul.
Apesar das novas rotas da seda serem fundamentais, o plano de expansão colonialista-imperialista sino-russo é ainda maior. Moscou e Pequim chegaram à conclusão de que o eixo estratégico hegemônico do imperialismo norte-americano só poderá ser rompido por meio das ações de um amplo plano coordenado: a Inciativa do Cinturão e Rota, a União Econômica Eurasiana, a Organização de Cooperação de Xangai, o BRICS, o Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura.
O setor hoje dominante da política imperialista nos EUA, orientado ao abandono de certos pressupostos do neoimperialismo na tentativa de reagir ao declínio de sua hegemonia, tem plena noção da ameaça do projeto imperial sino-russo. A CIA reconheceu em 2019 que a China é a maior ameaça ao seu poder em todo a história (maior do que foi a URSS).
Assim, considerando a conjuntura internacional e com base na teoria bakuninista do imperialismo e colonialismo, um dos possíveis cenários na Nova Guerra Fria é o declínio mais ou menos violento e prolongado da hegemonia norte-americana (com a destruição das relações de poder-saber hegemônicas do neoimperialismo), como a passagem de um padrão civilizatório inaugurado pelo sistema colonial desde o século XVI de característica ocidental-eurocêntrico, baseado em cadeias mercantis e de controle territorial de base marítimas-interoceânicas (principalmente atlântica) para um novo padrão civilizatório euroasiático, com centralidade oriental, baseado em cadeias mercantis e integração hegemonicamente terrestres.
Longe de um futuro melhor para o nosso povo, o que se anuncia com a intensificação das disputas imperiais-coloniais é o aprofundamento do desemprego, da miséria, da superexploração, das desigualdades, da destruição da natureza, da expropriação em massa de camponeses e povos originários. Uma série de acontecimentos, especialmente as crises do capital e insurgências populares (tal como a revolta no Iraque em 2019), serão forças agentes fundamentais que poderão acelerar, atrasar ou mesmo frustrar os interesses imperiais-coloniais em jogo.
Aos bakuninistas, cabe reafirmar uma posição de intransigência de classe, radicalmente anticapitalista, anticolonial e anti-imperialista (seja sino-russo, norte-americano ou mesmo um subimperialismo brasileiro). Isso não serve apenas para “demarcar princípios” de forma abstrata e sectária, mas deve se transformar em uma linha política e de massas de construção de uma alternativa real, classista e internacionalista, de reorganização do proletariado e dos povos oprimidos.
2. Da insurgência à revolução: os desafios e contradições da luta de classes na América Latina e Brasil
No início do século XXI, emerge um novo extrativismo (ou neoextrativismo) na América Latina. Essa nova configuração do capital extrativo foi permeada por continuidades e mudanças em relação ao extrativismo “clássico” e materializou regionalmente o processo global da nova onda de colonização. O neoextrativismo possui carcaterísticas:
1) econômicas: profunda articulação monopolista entre o capital industrial-agrário-financeiro, aprofundamento da dependência do mercado externo e da flutuação de preços;
2) políticas: papel preponderante do Estado e de governos “progressistas”;
3) sociais: programas sociais e assistenciais desenvolvidos, em grande parte, através da captação da renda extrativa por parte do Estado, sem alterar o aprofundamento das desigualdades sociais e fundiárias;
4) ideológicas: renovação do mito do progresso, apelo ao interesse nacional, a proposta de um modelo de desenvolvimento “sustentável” e “participativo”.
No entanto, esse ciclo de governos “progressistas” apoiados em uma política neoextrativista e desenvolvimentista chegou ao fim. Hoje, a América Latina tem vivido uma conjuntura de radicalização da luta de classes e das disputas geopolíticas. Ao mesmo tempo que é fortemente influenciada pelas dinâmicas globais do neoimperialismo, com destaque ao aprofundamento do modelo colonial neoextrativista e a Nova Guerra Fria, também existem particularidades e disparidades nacionais e regionais que determinam os cenários em cada país e localidade.
2.1 O ciclo do progressismo latino-americano: integração sistêmica e um novo salto do desenvolvimento capitalista
O modelo neoextrativista foi aplicado de forma geral por governos latino-americanos tanto pelos neoliberais mais conservadores quanto pelos governos progressistas-desenvolvimentistas. Nestes últimos, apesar de aspectos em comum, devemos fazer uma diferenciação entre um modelo mais estatizante e nacionalista (casos da Venezuela, Bolívia e Equador) e um modelo que combinou neoliberalismo e desenvolvimentismo através da participação do Estado na economia, mas muitas vezes de forma indireta e financeirizada através de subsídios por meio de bancos estatais, exoneração fiscal, participação acionária, capitalização de estatais através da abertura de capitais (casos do Brasil, Argentina, Uruguai).
As diferenças de “modelo” do neoextrativismo latino-americano estão materializadas em um conjunto de instituições políticas, econômicas e sociais, ou seja, em estruturas de governamentalidade específicas, de acordo com sua história, incluindo as lutas populares, em cada país. Nesse sentido, vale lembrar que grande parte dos governos “progressistas” são originados em processos de mobilização sindical, popular ou indígena em momentos anteriores à sua integração sistêmica. Alguns são frutos de insurgências de massas (tal como a Bolívia) e, nesses casos, algumas mudanças foram mais profundas.
No entanto, a não ruptura sistêmica por parte de nenhum desses governos está na base da crise atual dos seus modelos de desenvolvimento do capitalismo dependente e de sua política internacional “não-hegemônica”. A ascensão e queda dos governos progressistas é o resultado histórico da derrota dos movimentos antineoliberais, operários e camponeses que se levantaram há mais de duas décadas na América Latina.
Em termos regionais e internacionais, o auge do ciclo de governos “progressistas” latino-americanos representou uma política mais ou menos alternativa em relação aos interesses do imperialismo estadunidense, sendo inseridas, no entanto, na estratégia imperialista do bloco China-Rússia. Os BRICS e a chamada agenda de cooperação Sul-Sul, bem como o papel subimperialista do Brasil na América Latina e África, foram elevados retoricamente como um projeto “anti-imperialista”, “cooperativo” e como caminho possível para a “soberania nacional”. Na prática, significaram a cooperação militar entre Estados (contra os seus próprios povos), internacionalização das empresas multinacionais brasileiras, penetração crescente de capital estrangeiro, ocupação militar do Haiti e de territórios marginalizados dentro dos próprios países através de políticas estatais de contrainsurgência, expropriação do campesinato, povos originários e bens naturais e coletivos e aprofundamento das relações de dependência através de uma economia voltada para a exportação de commodities, especialmente para a China.
Um exemplo do projeto subimperialista do PT foi o programa PROSAVANA, criado em 2009. Com a nova onda global de colonização, a África é vista como destino estratégico para investimentos capitalistas e estatais. O PROSAVANA teve como objetivo auxiliar o Estado de Moçambique a reproduzir na savana africana o modelo de agricultura capitalista que expropriou milhares de camponeses e devastou a sociobiodiversidade do cerrado brasileiro. Isso é o que o subimperialismo petista chamou de política internacional “anti-imperialista” e de “cooperação”. Assim também o fez com a política de expansão internacional da Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev, Gerdau e BRF, principalmente para América Latina e África.
A crise do petróleo de 2014/2015 evidenciou uma série de debilidades dos governos progressistas. A principal foi a especialização produtiva e a criação de corredores de exportação de commodities agrominerais e energéticas. Além disso, desde a crise de 2008 já explodiam no mundo diversas lutas insurgentes que, em grande parte tinham, e ainda tem, como contexto as disputas imperiais e coloniais sobre a privatização dos recursos naturais e energéticos. Tal é o caso da revolta popular no Brasil em junho de 2013, da revolução em curso em Rojava desde 2012, das revoltas populares no Iraque, Haiti, Equador e Chile em 2019. Através da teoria bakuninista, podemos compreender a interligação entre os processos globais contemporâneos de insurgência e contrainsurgência.
Assim, a crise atual dos governos progressistas pode ser sintetizada em três principais fatores: 1) No fim do ciclo de valorização das commodities em 2014/2015; 2) O acirramento das disputas da Nova Guerra Fria, levando ao ataque sistemático do imperialismo norte-americano para colocar governos que defendam uma política de privatização, especialmente do setor energético; 3) Na ruptura do movimento de massas com os pactos de conciliação de classes efetuados pelas burocracias sindicais e partidárias, em a ruptura se deu pelos setores mais superexplorados da classe; 4) Com a ascensão ao Estado brasileiro do bloco burguês-conservador em 2016, liderado hoje pelo governo Bolsonaro/Mourão, o papel subimperialista do Brasil se torna um instrumento fundamental da geopolítica pró-EUA na região.
Influenciado pelo avanço conservador, especialmente no Brasil, o imperialismo norte-americano articulou o Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru) e, contando com a cumplicidade da UE, articulou uma dura tentativa de golpe na Venezuela em 2019, culminando na autoproclamação presidencial de Guaidó. A derrota do golpe conjugou fatores internos, principalmente a resistência civil armada através das milícias bolivarianas, e externos, o apoio do bloco sino-russo a Maduro. O que está em jogo na Venezuela (assim como no Brasil) não é uma disputa ideológica “socialismo x capitalismo” (falseamento que mistifica a atual guerra fria e impede uma política independente do proletariado) e sim as disputas por recursos energéticos. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo.
No final de 2019, na Bolívia, o governo Evo Morales (MAS) foi deposto. A crise teve como principais fatores: 1) A política reformista e idealista do MAS de conciliação com a burguesia, inclusive setores golpistas; 2) O projeto de um neoextrativismo e desenvolvimentismo com retórica “multicultural”, que alimentou e fortaleceu as forças colonialistas clássicas (mineração, agronegócio, clerical); 3) os conflitos e rupturas com o movimento popular e indígena; 4) A conspiração externa do imperialismo norte-americano e do subimperialismo brasileiro.
Assim, a crise na Bolívia não pode ser explicada somente como ingerência externa, mas também como produto de políticas imperiais-coloniais do próprio governo Evo Morales. É importante ressaltar que Morales entregou Cesare Battisti aos carrascos do Brasil e Itália e foi o único presidente “progressista” a saudar e ser humilhado na posse de Bolsonaro. Com o golpe, o objetivo é estender o neoliberalismo para o controle do gás mineral e do lítio (a Bolívia possui 70% das reservas de lítio do mundo), com a privatização e a penetração do capital estrangeiro. A realidade política pós-Evo é de ofensiva conservadora, e mesmo sem novas eleições o governo já começa a desfazer-se das antigas alianças e se realinhar ao imperialismo estadunidense.
Um instrumento importante para o imperialismo dos EUA tem sido a atuação da OEA, na figura do seu secretário geral Luis Almagro. A OEA tem expressado um forte alinhamento aos interesses norte-americanos. Não surpreende o fato de Almagro ter se projetado politicamente por sua participação como chanceler no governo “progressista” de Mujica no Uruguai. Além da Venezuela, Almagro participou ativamente da conspiração golpista e imperialista na Bolívia.
Em relação as discursividades do neoimperialismo, o enunciado “democrático” que legitima e impulsiona a missão civilizatória imperial na América Latina se tornou um aspecto ideológico fundamental da atual ofensiva liberal-conservadora associada aos EUA. Através de denúncias contra a “corrupção”, “ditadura” e “reeleições”, as distintas forças reacionárias no continente têm buscado explorar sentimentos legítimos das populações para avançar nos seus reais interesses de ampliação da dominação sobre os povos e a natureza.
Obviamente, a queda da maioria dos blocos progressistas-socialdemocratas dos aparatos de Estado não significa que tenham sido eliminados. Eles permanecem sob diferentes condições e reestrutrações e, o pior, como força hegemônica no movimento de massas em muitos países. Em geral, esses blocos socialdemocratas em crise tem buscado novas alianças com a burguesia, inclusive com os setores golpistas. Alguns desses blocos voltaram ou possuem chances de voltar ao poder, mas em uma correlação de forças distinta da primeira década do século XX. Alguns resquícios do progressismo latino-americano são o México e a Nicarágua.
O atual governo de López Obrador (MORENA) do México, saudado pela socialdemocracia no Brasil (PT, PCdoB, PSOL, MST), vem implementando um pacote de megaprojetos de mineração, agronegócio, hidrelétricas, turismo e infraestrutura. Para tal, tem se apoiado no velho poder do narcotráfico e paramilitares, na criação da Guarda Nacional e em um forte discurso desenvolvimentista, democrático (uso de referendos) e assistencialista. Chamam essa política colonial e extrativista de a “Quarta Transformação”.
O México permanece profundamente vinculado ao imperialismo norte-americano. Em dezembro de 2019, o governo renovou o tratado de livre comércio que substitui o Nafta, o USMCA. As comunidades indígenas e camponesas são os principais alvos da “Quarta Aniquilação”, mas a existência de um forte movimento de massas autônomo e insurgente (especialmente o zapatismo) tem resistido heroicamente aos megaprojetos, incluindo o combate aos programas assistencialistas.
Na Nicarágua, o governo “progressista” de Daniel Ortega (FSLN) gerencia as estruturas neocoloniais do desenvolvimento dependente periférico. A FSLN passa, principalmente nos anos 1990, por um processo de burocratização e degeneração ideológica, do qual Ortega representa a ala mais oportunista. Em 2018, protestos massivos se levantaram contra o megaprojeto desenvolvimentista do canal transoceânico e um pacote de medidas neoliberais imposto pelo FMI e Banco Mundial. O governo da burocracia “sandinista” se utilizou da mais brutal repressão, causando dezenas de mortes e prisões políticas.
Mesmo diante da clara subserviência ao imperialismo e ao neoliberalismo por parte de Ortega, em toda a América Latina o velho progressismo e reformismo socialdemocrata condenaram a insurgência popular antineoliberal como “golpista” e “direitista”. Isso demonstra a miséria ideológica e teórica em que se encontra o progressismo em declínio na América Latina.
2.2 As forças em conflito na luta de classes na América Latina
Podemos dizer que as forças políticas que hoje disputam a luta de classes na região formam três blocos ou tendências gerais: 1) Um bloco da reação conservadora, clerical, neoliberal, hegemonicamente composto pela burguesia agrária, industrial e financeira e um setor da pequena-burguesia, vinculado ao imperialismo norte-americano; 2) Um bloco desenvolvimentista, socialdemocrata, reformista, hegemonicamente composto pela burocracia sindical-popular, uma pequena-burguesia e uma tecnocracia de empresas estatais e bancos. Na geopolítica está vinculado ao imperialismo sino-russo; 3) classe trabalhadora e povos insurgentes, auto-organizados em coletivos, assembleias e movimentos populares autônomos.
A realidade regional em que atuam essas forças está marcada pela continuidade do projeto colonial extrativista (com uma face cada vez mais conservadora e privatista), políticas neoliberais de destruição dos serviços públicos, políticas de contrainsurgência e ampliação do poder militar na sociedade e no Estado. Em relação ao emprego, 53% da população empregada na América Latina atua no setor informal, dificultando e até impossibilitando o acesso a direitos e proteção social. No Brasil, a taxa é de 46% e no México de 53,4%. Enquanto a taxa de emprego tem um leve aumento no Brasil, na Argentina, Chile e Peru deve ter uma leve queda, mesmo que estes países tenham alta no crescimento acima dos 3%.
Brasil e América Latina estão presentes no índice analisado sobre péssimas condições de trabalho. Mas o que era ruim, piorou. A chegada das tecnologias de aplicativos de serviços piora ainda mais as condições de trabalho, chegando aos níveis mais vis de exploração e controle da força de trabalho. Com a terceirização, o trabalhador ainda tinha acesso à proteção social, o que não existe nos trabalhos sob processo de “uberização”.
A nova tecnologia de poder mercantil se expande sob as narrativas neoimperialistas do “empreendedorismo” e da “autonomia total” (“seja o seu próprio patrão!”). O distanciamento dos centros/sedes dessas empresas e o distanciamento entre os trabalhadores atua para dificultar a identificação dos verdadeiros culpados pela miséria, instabilidade, esgotamento físico e emocional dos trabalhadores (causando, em geral, a auto- culpabilização). A tendência é o crescimento desse tipo de controle da exploração do trabalho para outros setores econômicos, ampliando a fração do proletariado marginal.
Tudo isso não tem impedido a formação da consciência de classe nesse setor. As experiências de organização e luta tem crescido e são fundamentais para a luta de classe atual. A tentativa de regulamentar para limitar a atuação dos prestadores de serviço por aplicativo, assim como as reivindicações de direitos básicos, tem gerado mobilizações e manifestações destes trabalhadores e em alguns países e cidades estes constituíram associações e sindicatos.
Por trás da narrativa de criação de “empreendedores livres”, os trabalhadores vão desmascarando a verdadeira realidade: a superexploração e a escravidão moderna que atingem principalmente nos países centrais os imigrantes pobres e nos países periféricos as populações negras e indígenas.
Além disso, a articulação dos Estados no favorecimento de empresas gerou uma série de denúncias de corrupção e autoritarismo estatal-empresarial por toda a América Latina. Esse cenário político e econômico regional, integrado com as realidades nacionais, a Nova Guerra Fria e a nova onda de colonização têm gerado um acirramento da luta de classes.
Como parte de uma guerra híbrida na Nova Guerra Fria, os blocos reacionários e direitistas têm disputado processos insurrecionais, de duplo poder e de guerra irregular (Líbia, Síria, Bolívia e Venezuela são alguns exemplos) para avançar seu projeto imperial. A reação tem desenvolvido, de acordo com as condições, uma política de ruptura com as instituições e a ordem, gerando em certos contextos (como no Brasil) uma aura “antissistêmica”, com o intuito de expandir o poder do imperialismo norte-americano e das burguesias monopolistas.
A política da extrema direita tem significado em termos discursivos/ideológicos o abandono de enunciados universalistas do multiculturalismo e ambientalismo. Têm proposto uma agenda de defesa da cultura ocidental, branca, cristã e patriarcal que se materializa em discursos voltados aos “cidadãos de bem” (contra os imigrantes no caso dos países centrais, ou da população marginalizada nos países periféricos, mas também contra mulheres e lgbts) que tem servido de base para políticas anti-migratórias, encarceramento em massa, ampliação do poder clerical e do racismo religioso, dentre outras. A difusão de tais ideias vem sendo orquestrada principalmente pela manipulação de conteúdos via redes sociais, sendo o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, um dos maiores articuladores dos movimentos de direita em várias partes do mundo.
No Brasil, a extrema-direita tem relacionado a crítica aos enunciados multiculturalistas do neoimperialismo à ideologia “esquerdista” e ao “globalismo” de forma genérica. Isso tem servido para encobrir sua real política colonialista com um verniz ideológico, vendendo a “guerra contra o poder do globalismo/comunismo” como uma nova agenda “emancipatória” das nações, religiões e instituições ocidentais. Aliás, a extrema direita bolsonarista tem tido papel importante nesse processo regional de ascenso conservador. Eduardo Bolsonaro já havia afirmado que buscava formar uma “Internacional de Direita” com a participação de líderes de extrema direita da América e Europa.
Portanto, ele não é apenas o filho de Jair Bolsonaro, é um militante de extrema direita protofascista que busca construir uma cruzada pela cultura judaico-cristã e os princípios de Deus, Pátria, Família e Propriedade (estrutura basilar dos Estados nacionais moderno-coloniais) e que foram as palavras de ordem nas resoluções da Cúpula Conservadora das Américas, ocorrida em dezembro de 2018 no Paraná. Em março de 2019, Eduardo Bolsonaro passou a representar na América do Sul o “The Movement”, o contraditório consórcio de representantes Europeus que apoia o “populismo de direita”.
Essa farsa da “revolução direitista” também tem alcançado êxito pela posição que assume o bloco socialdemocrata e desenvolvimentista em decadência: atuando como defensores da antiga ordem “progressista”, da democracia como valor absoluto, enfim, com uma política cada vez mais conservadora em termos nacionais e, em termos internacionais, profundamente impregnada ora pelos enunciados multiculturalistas-ambientalistas-democratistas do neoimperialismo ora pelo fortalecimento do bloco imperial sino-russo.
Esse bloco impõe para os povos um papel de força auxiliar nas disputas interburguesas. Assim, ambos os projetos são duas faces da mesma moeda: servem para unificar suas bases sociais para a realização dos seus projetos coloniais-imperiais de dominação dos povos e da natureza.
Mas essas são apenas duas forças agentes da luta de classes na América Latina. Falta uma força essencial: as lutas insurgentes e movimentos autônomos da classe trabalhadora. Vivemos um novo ciclo de lutas global, uma era de insurgências, caracterizado por levantes e explosões mais ou menos espontâneas e combativas, independentes dos sindicatos e organismos de representação tradicionais. Essa análise é importante para pensarmos duas insurgências: o levante indígena-popular no Equador (2019) e a revolta popular no Chile (2019-2020).
Em outubro de 2019, o Equador foi palco de uma rebelião e greve geral campesina, indígena e popular, com barricadas nas ruas, detenção de militares pelo povo, ocupação de campos de petróleo, tomada do Parlamento Nacional (e instituição do “Parlamento dos Povos”) e a consequente transferência da sede oficial do governo de Quito para Guayaquil.
A insurgência teve início nas jornadas convocadas pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE) contra o pacote de reformas neoliberais do governo Lenín Moreno, articulado com o FMI e a burguesia, que resultou em aumento da inflação, avanço das mineradoras e a flexibilização trabalhista. A insurgência fez o governo recuar.
O levante no Equador expressou alguns elementos fundamentais para pensar as insurgências populares na América Latina: 1°) Com o grito nas ruas “Nem Correa, nem Moreno!” e a expulsão de setores correístas de atos, as massas populares abriram uma brecha estratégica para além dos blocos conservadores e progressistas; 2º) A criação do Parlamento dos Povos em Quito e a experiência de assembleias populares autônomas, centros de apoio, habitação e restaurantes comunitários como espaços de poder popular; 3º) A ampliação da luta para além das lideranças históricas, incluindo o movimento estudantil, feminista e principalmente uma juventude indígena e de trabalhadores precarizados nascida pós-2000, favorecendo um diálogo intergeracional e com setores sem vínculo com o correísmo.
No fim de outubro de 2019, eclodiu também uma rebelião no Chile, iniciada contra o aumento de tarifa nos transportes, mas revelando um esgotamento das condições de vida do povo, aumento das desigualdades sociais e destruição ecológica, resultantes de décadas de desenvolvimento capitalista neoliberal e extrativista. Uma série de demandas coletivistas foram levantadas em manifestações descentralizadas, com expropriação de supermercados, ocupações, barricadas e incêndios de trens e prédios.
A revolta atingiu frontalmente os interesses imperialistas com o cancelamento da Conferência sobre Mudança Climática (COP25), do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec) e a final da Copa Libertadores, contrariando desde baixo os poderes dominantes. A insurgência derrotou o aumento das tarifas, mas a revolta continuou.
As respostas do Estado chileno se deram principalmente em duas direções: 1º) Uma brutal repressão que tomou o caráter de uma guerra interna de contrainsurgência: decretos de Estado de Exceção, aprovação de leis antibarricada e anti-roubo, gasto bilionário com gás lacrimogêno, bombas, balas de borracha, dentre outros, que serviram para causar mais de 3 mil feridos, mais de 10 mil presos, cerca de 40 mortos e mais de mil denúncias de torturas, estupros e violações por parte da polícia; 2º) O chamado “Acordo pela Paz”, assinado por todos os partidos da ordem (da direita à esquerda, incluindo os “libertários”) para canalizar a revolta popular para um referendo sobre a elaboração de uma nova constituição para o país. Na medida o objetivo contrainsurgente não foi atingido, a resposta do Estado foi o aprofundamento ainda maior da repressão.
Diferente do Equador, a insurgência no Chile não possuiu uma articulação nem reivindicações unificadas e, apesar da proposta constituinte, a resistência se prolongou (ainda que irregular) até o início de 2020, evidenciando três questões fundamentais: 1º) A incapacidade das forças políticas hegemônicas (reformistas e conservadoras) de controlar e “governar” a classe trabalhadora chilena; 2º) A criação de uma série de estruturas de (contra)poder popular, tais como assembleias comunitárias territoriais, organismos de autodefesa de protestos e bairros, etc.; 3º) A aliança entre o proletariado e os povos originários e camponeses, criando elos das lutas na cidade e no campo, que questionou o modelo neoliberal e o neoextrativismo que avança na expropriação colonialista da terra, da água e recursos energéticos no Chile.
Esses processos insurgentes latinoamericanos, assim como as jornadas de junho de 2013 no Brasil, trazem lições importantes para os anarquistas e revolucionários. O primeiro deles é que a luta dos povos tem aberto uma brecha entre a dualidade sistêmica dos blocos conservador e socialdemocrata. Isso pode indicar que estamos diante de um giro estratégico, que se consolidará ou não, dependendo de como atuem cada uma das forças envolvidas. Esse giro estratégico pode significar uma reorganização global do movimento de massas na América Latina com as características que marcam esses novos levantes e movimentos, que também expressam mudanças geracionais, de classe e gênero do proletariado latinoamericano.
O segundo aspecto é a diferença entre insurreição e revolução e sobre como passar de uma para a outra. Esse tema já apareceu sob diferentes formas na história de lutas populares. Um marco é o conceito de “ginástica revolucionária” que dividiu historicamente anarquistas contra os setores reformistas marxistas ou “libertários”. O reformismo que negava a insurreição e a violência como parte do acúmulo de experiência e saber coletivo do próprio povo tendeu sempre para o eleitoralismo ou elitismo.
No entanto, a mistificação da violência e da insurreição como fim em si mesmos também levaram a desvios como o idealismo e o isolacionismo. Assim, é importante apresentar a análise bakuninista, materialista e dialética, sobre insurgência e revolução e, assim, contribuir com o pensar e agir na luta de classes atual.
De acordo com a teoria bakuninista, a insurgência é um tipo de processo político que apresenta um conjunto de características:
a) que tem como centro das ações o uso da violência coletiva (violência civil não-letal, que se une nas formas cotidianas de resistência como saques, ocupações, sabotagem, incêndios e que por isso mesmo se colocam para anular relações de dominação e exploração) e da violência militar (sob a forma de guerra de guerrilhas ou guerra regular) como principal instrumento para alcançar os fins políticos ou expressar visões e antagonismos;
b) é um processo em que uma variedade de sujeitos não centralizados se articulam e sua forma aparenta ser desorganizada, quando na realidade é multicentrada e regida por formas de organização específica;
c) é um processo em que uma força social relativamente mais fraca se desenvolve fora das estruturas estatais, buscando desafiar ou anular um governo e mudar as condições sociais;
d) que neutraliza o poder de governo sobre regiões, criando formas específicas de dualidades de poderes que podem ser estatais ou não e durar mais ou menos tempo; e) que surge de uma prática e, por isso é passível de mudanças e reversão, conforme as contratendências que agem sobre o processo.
A insurgência, então, não se iguala a um protesto ou manifestação violenta. Passeatas, greves, piquetes e ocupações podem estar dentro de diferentes processos (e projetos) políticos, tal como processos eleitorais. A insurgência é um processo político que tende à insurreição e à revolução (mesmo que isso possa ser anulado por outras contratendências). A insurreição é o evento culminante da insurgência como processo, uma situação em que essa insurgência toma a ofensiva contra o poder a que se opõe. A insurreição é o momento concreto decisivo para a insurgência, pois é quando pode avançar ou retroagir a redistribuição do poder e renda, de acordo com os fins que se coloca.
A revolução é um processo de transformação radical de um sistema de poder político, econômico e social (e não somente a forma de governo). Partindo da teoria anarquista, as principais características da revolução integral, em suas formas e conteúdos, são:
a) A revolução é fruto de um processo de ruptura com a ordem anterior e, portanto, necessariamente violento (daí sua relação com a insurgência);
b) Os sujeitos da revolução são as massas trabalhadoras do campo e da cidade;
c) A transformação revolucionária ocorre de baixo para cima a partir dos organismos de poder popular e da insurreição (e não de cima para baixo através do Estado/eleições);
d) O crescimento e expansão dos organismos de poder popular (assembleias, conselhos, cooperativas, etc.) ocorrem ainda sob o sistema capitalista, diretamente vinculados à luta de classes (greves, crises, levantes, etc.);
e) Através da substituição dos poderes dos Estados e das empresas capitalistas pelos organismos de poder popular instaura-se um novo sistema social baseado no autogoverno e no socialismo.
No entanto, para que essa via revolucionária se consolide, são necessárias três condições básicas: 1) a existência de um partido revolucionário ou, pelo menos, de uma frente revolucionária (como no caso da Argélia) que garanta uma estratégia e direção unificada de luta e a militarização do movimento popular no momento correto (criação de um braço armado revolucionário); 2) a existência de um movimento de massas forte, influenciado por tal partido ou frente; 3) a formulação de um programa revolucionário, que possibilite a aglutinação de um setor significativo das massas para a ofensiva insurrecional.
Assim, insurgência e revolução não podem ser confundidas, ainda que estejam profundamente relacionadas. As insurreições que ocorreram e que estão por vir são fundamentais para uma política revolucionária na América Latina e no Brasil. No entanto, a força da tradição socialdemocrata ainda hegemônica na maioria dos movimentos de massas, assim como a inexistência ou incipiência de estruturas de contrapoder popular, são condições que tendem a minar as potencialidades dos processos insurgentes, conduzindo-os para a integração sistêmica (reformas políticas, constituintes, eleições, etc.) ou para a repressão e a contrainsurgência.
A tendência ao espontaneísmo, desorganização ou radicalismo individual e simbólico por parte de pequenos grupos “autonomistas” e “libertários” não chegam nem a arranhar a política hegemônica, ao contrário, reforçam-na. Sem apresentar soluções reais para a autonomia do movimento popular, deixando-o refém das disputas sistêmicas, as crises do capital só tenderão a aprofundar os níveis de exploração e dominação sobre os povos. Se a profunda crise de organização se prolongar, o proletariado se levantará em revoltas justas, mas desesperadas e cheia de limites a sua potencialidade. A dependência de falsos líderes da esquerda institucional cada vez mais covardes, burocráticos e elitistas terá como resultado inevitável o avanço da tirania, do autoritarismo e da superexploração.
A única via possível para resistir agora e transformar as futuras insurreições em processos revolucionários é a constituição de fortes organizações sindicalistas revolucionárias, que organizem não apenas a classe trabalhadora urbana e formal, mas a massa de trabalhadores marginalizados e povos oprimidos, negros, indígenas. Essa é uma tarefa emergencial para a maior parte da América Latina. Estamos vivendo uma era de insurreições e revoltas e o presente de batalhas nos chama ao dever. É preciso que os anarquistas e revolucionários combinem paciência, disciplina e coragem, com uma linha correta de atuação, para construir um novo futuro junto ao nosso povo trabalhador e explorado.
3. A conjuntura nacional: ofensiva burguesa-militarista-clerical diante da nova guerra fria e da onda global de colonização
O Brasil é estratégico no cenário mundial e regional e apresenta contradições multiescalares que podem tanto levar à soluções ainda mais à direta e ao fechamento de regime quanto à soluções no interior da democracia burguesa. Ambas confluem para a manutenção do sistema e o aprofundamento da repressão e exploração, o que aumenta a tendência para a explosão de revoltas e insurgências proletárias.
É importante caracterizar como essa disputa interburguesa, os novos projetos de exploração e dominação do bloco no poder, bem como a agência da classe trabalhadora brasileira afetam a luta de classes no Brasil.
3.1 Conspiração imperialista, extrema direta e a crise da democracia burguesa no Brasil
A crise política que se inicia com as eleições burguesas de 2014 começou a ser preparada ainda em 2007 e tem como pano de fundo a disputa pelos recursos energéticos e minerais do Brasil, em especial o pré-sal. Como temos afirmado, as disputas imperialistas e colonialistas expressam relações e lutas pelo poder, nas quais as conspirações fazem parte do repertório (tanto as conspirações interburguesas como as insurrecionais) e se intensificam nos momentos de crise.
Vejamos alguns dados reveladores da conspiração imperialista e conservadora no Brasil.
Em 2005, a Chevron abandonou o projeto de pesquisa do pré-sal e vendeu sua parte para a Partex (portuguesa) e Petrobras. Esta última permanece no projeto e encontra a área de Tupi, fazendo a aposta do pré-sal se tornar realidade. Em janeiro de 2008, ocorre um furto de HD´s e laptops de um container da Petrobras. A princípio, a situação foi tratada como espionagem industrial pela Polícia Federal, mas em seguida mudou-se drasticamente a linha de investigação para um furto comum. Em 2009, ocorre uma conferência no RJ com a PF, MP e autoridades dos EUA, inclusive a embaixadora estadunidense da época. A pauta era combate a corrupção e contou com a participação do então desconhecido Sérgio Moro.
Em 2010, o Wikileaks revelou que Serra, então candidato à presidência, havia trocado telegramas com uma alta executiva da Chevron, a mesma que havia desistido do Pré-sal, sobre a necessidade de fazer drásticas mudanças nos marcos de produção e exploração no pré-sal. Naquele momento, a Petrobras era a única operadora e partícipe majoritária nos leilões. O compromisso de Serra com a Chevron era tamanho que o projeto de lei que alterava a participação da Petrobras no pré-sal foi de sua autoria.
Em 2011, os EUA, sob a gerência Obama, detalharam um redirecionamento estratégico de sua política energética num documento chamado Blue Print for a Secure Energy, colocando o Brasil como um ator central na área do pré-sal, biocombustíveis e hidrocarbonetos. No mesmo ano, Obama visita o Brasil e as instalações da Petrobras. Empresas de outros países também realizaram aproximações com líderes locais, tal como a visita da CNPC (China) a Alckmin visando investir na cadeia de petróleo do Brasil, em especial na Bacia de Santos.
Em 2013, Snowden apresentou documentos que mostravam como a NSA realizava alta espionagem contra Dilma, ministros, altos dirigentes do governo e também a rede privada de computadores da Petrobras. Neste mesmo ano, os EUA trocam sua embaixadora no Brasil, empossando Liliana Ayalde (que participou do golpe contra Lugo, no Paraguai) como parte da mudança de estratégia norte-americana para o fortalecimento da política imperial no continente.
Esta análise, explica alguns passos do imperialismo estadunidense, relacionados às mudanças de governo ocorridas no Brasil até 2017 e nos dá subsídios para entender melhor a Segunda Guerra Fria, o papel estratégico do Brasil e os compromissos de Bolsonaro com a entrega de recursos minerais e energéticos para os EUA. No entanto, a evidente conspiração imperialista não explica toda a realidade atual. Inclusive, essa narrativa unilateral sobre as “forças globais-imperialistas” tem sido utilizada pelo lulismo-pestismo para se isentar das próprias contradições em 13 anos do seu governo de conciliação. Como já afirmamos, o golpe parlamentar de 2016 e a atual ofensiva conservadora ocorre sob as estruturas políticas, econômicas e ideológicas construídas e aprofundados ainda nos governos do PT. Vejamos alguns elementos.
A nova onda de colonização se desenvolve no Brasil a partir do século XXI por meio das estruturas do desenvolvimento capitalista dependente e de uma estrutura de colonialismo interno, enquanto em outros países sul-americanos se deu na esteira de uma relação neocolonial. A nova onda de colonização no Brasil não se manifestou por meio de uma repetição da “ocupação militar estrangeira”, mas se deu por um duplo impulso: o investimento estrangeiro alavancou uma política e estratégia neodesenvolvimentista, da qual a expansão da indústria extrativa, da agroindústria e da indústria em geral era o principal componente.
É nesse contexto que podemos falar que as estruturas do colonialismo interno, que estavam em refluxo desde os anos 1980, receberam um novo folego. As políticas de colonização no Brasil serão conduzidas por uma burguesia monopolista nacional, associadas ao capital estrangeiro, e com forte participação do Estado. Desse modo, se forma um consenso em torno da necessidade de desterritorializar os povos indígenas e camponeses, abrindo caminho para um processo de mercantilização de terras e do território. Assim, entre os anos 2005-2012 formou-se um grande bloco, não apenas no setor do “agronegócio”, que elaborou uma estratégia de desterritorialização.
As políticas neodesenvolvimentistas aplicadas pelos governos do PT revelaram seu potencial destrutivo a longo prazo. No final de julho de 2019, um massacre foi registrado no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado, na qual morreram 57 internos, 16 deles decapitados. A região sofreu com a implementação de projetos como a Usina de Belo Monte, que provocou diversos impactos socioambientais, entre eles, o inchaço da população carcerária, em decorrência do alargamento das condições de miséria na região.
No Brasil, os grandes empreendimentos capitalistas do século XXI, que levaram a expropriação de camponeses, povos indígenas, quilombolas e populações periféricas, estiveram sustentados pelo Estado brasileiro através do PAC e BNDES. Esse projeto neoextrativista é o responsável pelos rompimentos das barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), levando a centenas de mortes e desaparecimentos, destruição de territórios, habitações, plantações, poluição de rios, matança de incontáveis vidas animais e vegetais. Ambos os megaprojetos de mineração estavam ancorados na aliança da burguesia monopolista nacional com a burguesia estrangeira e o Estado brasileiro.
O processo de autoafirmação e expansão territorial deste bloco de poder produziu (ou reativou) as discursividades e formas de dominação tipicamente coloniais: racismo-etnocentrismo, o centralismo e o monopolismo, extremamente atravessadas pelas novas ideologias próprios do neoimperialismo (tal como foi o caso do etanol/carro flex e a farsa do discurso “ambientalista” imperial). Esse processo expansivo se tornou, na atualidade, a antessala de um neoextrativismo cada vez mais conservador.
As estruturas coloniais já naturalizadas e legitimadas em escala nacional sob os governos do PT levaram a burguesia, durante o momento de crise política e queda dos preços do petróleo, a aprofundar a ofensiva conservadora e a se desprender de determinados paradigmas “democráticos” e “ambientalistas”, gerando assim um cenário complexo de disputas e contradições. Vemos a passagemb de um neoextrativismo “progressista” para um cada vez mais conservador e neoliberal.
A revolta popular de junho de 2013 indicou uma ruptura entre o projeto político subimperialista e neodesenvolvimentista do PT e os anseios das massas populares por direitos coletivos. A extrema direita ressurge como força justamente nessa crise, se aproveitando (e ao mesmo tempo negando) a insatisfação política difusa e generalizada. Longe de fazer um discurso de defesa das instituições (papel que coube à socialdemocracia), a extrema direita cavalga na insatisfação popular fornecendo uma crítica aos problemas sociais vividos. Daí canalizam a revolta popular para uma crítica contra o “comunismo” no poder, a corrupção, a elite intelectual e cultural esquerdista, os imigrantes, etc.
As eleições de 2018 foram uma conjugação de três elementos: a guerra híbrida aplicada no Brasil, a ruptura das massas com o bloco socialdemocrata e a ascensão da ala mais à direita (clerical e militarista) no interior do bloco conservador desde o golpe parlamentar de 2016. A vitória eleitoral de Bolsonaro, além do forte sentimento de antipetismo, também foi consequência da intervenção de Steve Bannon, grande empresário e articulista de direita.
No entanto, ao assumir o poder, a extrema direita se vê dentro das instituições e a crise difusa e generalizada contra o sistema tende a se voltar contra ela. É o que tem acontecido, por exemplo, com o crescimento rápido da rejeição ao governo Bolsonaro. Se Haddad tivesse vencido, a extrema direita teria chance de crescer ainda mais surfando no descontentamento popular reinante. Mas, ao vencer, a insatisfação sobre a qual cavalgou passa a ser direcionada contra ela própria. A iniciativa tardia de formar um novo partido, “Aliança pelo Brasil”, rompendo ainda mais à direita com o PSL, não parece que alcançará o êxito de retomada da popularidade e capacidade de gerenciamento das crises, que tendem a aumentar.
As contradições do governo Bolsonaro têm uma escala nacional, internacional e intersetorial. Internacionalmente, o governo sofre forte pressão de potências europeias com base nas discursividades neoimperiais (a posição da França no caso dos incêndios da Amazônia é exemplar). Além disso, e principalmente, a burguesia monopolista brasileira está profundamente vinculada aos mercados asiáticos, principalmente o chinês. O Irã, para o qual o Brasil exporta 2,5 bilhões de dólares por ano, também é um exemplo. Essa integração econômica é fruto de mais de uma década de governos do PT.
Assim, a burguesia nacional que apoiou Bolsonaro o pressiona para a manutenção dessas alianças. Mas a política do novo governo é de subserviência aos interesses dos EUA, causando atritos entre os interesses “pragmáticos” da burguesia e a ideologia protofascista do bolsonarismo. Compensando os escândalos de Bolsonaro, o governo tem mantido o apoio da burguesia através do aprofundamento do colonialismo interno, favorecimento ao capital financeiro e ataque generalizado aos direitos trabalhistas.
Desde 2016 avaliamos que o caráter de “massas” da política de extrema direita e fascista tinha limites, pela própria natureza colonial de seu programa, que tem pouco a oferecer ao povo além de uma política neoliberal, retirada de direitos e repressão. Essa linha implica entrar em confronto com a sua própria base social, principalmente os servidores públicos e a pequena burguesia, o que levaria a deterioração mais rápida da sua base eleitoral mais difusa, formada por setores da classe trabalhadora sem compromisso ideológico com o bolsonarismo. É exatamente o que vem acontecendo, com um amplo setor da classe trabalhadora se desiludindo e se colocando em oposição ao governo.
3.2 Estado de contrainsurgência e a estratégia de contrarrevolução preventiva
Esse processo de ofensiva conservadora e liberal está ancorado em estruturas militares, jurídicas e políticas legadas desde a ditadura civil-militar e modernizadas a partir dos anos 2000 pelo bloco socialdemocrata/desenvolvimentista. O Estado brasileiro não abandonou, no período pós-ditadura, as suas características estruturais de um Estado de Contrainsurgência (tal como caracterizado por Ruy Mauro Marini), ainda que seus mecanismos tenham se mantido em certo refluxo durante o processo de “redemocratização” e até os anos 2000.
O conceito de Estado de contrainsurgência expõe as especificidades da contrarrevolução burguesa na América Latina a partir da metade do século XX, que se manifestou não apenas por golpes militares, mas também na reestruturação dos aparelhos de Estados democrático-burgueses, ampliando o papel tutelar e impositivo das forças militares na política e sociedade nacional, na transformação estrutural das burguesias nacionais (internacionalizando-se e ampliando a dependência ao Estado e ao capital estrangeiro) e dos movimentos de massas (com a radicalização crescente, fugindo ao controle dos partidos comunistas e socialdemocratas).
Um dos aspectos centrais do projeto de contrarrevolução latino-americano é a mudança das relações mundiais de poder e dominação imperialista e colonialista. Nos anos 1960, a hegemonia norte-americana havia sido abalada por uma série de revoluções anticoloniais (Argélia, Congo, Cuba, Vietnã), que produziram mudanças no sistema imperialista, como já comentado anteriormente. Isso ocasionou um maior equilíbrio geopolítico entre EUA e URSS, a chamada Guerra Fria I. Tudo isso, conduz a mudança da estratégica norte-americana que tem que operar uma resposta flexível e híbrida, capaz de enfrentar o desafio revolucionário (o que, na perspectiva dos Estados Unidos, é sempre uma face do “perigo comunista”) onde quer que ele surja e sob as mais variadas formas. A ideologia anticomunista do “inimigo interno” é uma das marcas do Estado de contrainsurgência.
Essa reativação e modernização das estruturas do Estado de contrainsurgência no Brasil foi impulsionado pelo projeto neodesenvolvimentista levado a cabo pelos governos do PT. A criação da Força Nacional, a Lei Antiterrorismo, a modernização e integração dos aparatos repressivos e jurídicos, as UPPs e o aumento da população carcerária são algumas marcas desse processo. Assim, após a insurgência de junho de 2013 (e o aumento das revoltas e greves combativas) as forças conservadoras burguesas, em aliança com o imperialismo norte-americano, impulsionam a ascensão ao poder e a conformação de um novo bloco com uma estratégia de contrarrevolução preventiva, com o aprofundamento do Estado de contrainsurgência e se utilizando das estruturas criadas ou fortalecidas pelo PT, inclusive contra ele próprio.
No entanto, não é correto utilizar o termo fascismo ou ditadura para caracterizar a realidade política atual. Esses termos, embora distintos, representam relações de poder e dominação que, pelo menos ainda, não se verificam. Em relação ao fascismo, já abordamos os seus limites na periferia e semi-periferia global, devido as relações imperialistas e coloniais que expressam a inserção no sistema mundial e impactam as relações de classe e a questão étnica-nacional, profundamente diferentes da Europa.
Em relação à ditadura, é fundamental pontuar que o manto institucional da democracia burguesa não tem impedido o avanço do Estado policial e penal no Brasil e, ao contrário, tem atuado como o seu maior legitimador, sempre pronto a modernizar as forças repressivas em prol da “democracia”.
Assim, não definir a realidade política atual como ditadura ou fascismo não nos leva a negar a ofensiva geral do militarismo, da política contrainsurgente, do fundamentalismo religioso, do neoextrativismo e da superexploração da classe trabalhadora. Ao contrário, nos leva a limpar o terreno das adjetivações e considerar seriamente as possíveis mudanças na conjuntura, inclusive a possibilidade de um real fechamento de regime em decorrência do aprofundamento dos conflitos de classes.
O atual contexto de aprofundamento do estado de exceção e de contrainsurgência é impulsionado por inúmeras causas, algumas delas são:
a) A crise econômica global, associada às novas tecnologias, impôs um recuo completo nas vagas de trabalho e tornou uma grande massa da classe trabalhadora descartável. Nestes períodos, é comum aumentar a criminalização da pobreza e mesmo transitar do discurso de medidas socioeducativas para reinserir o trabalhador na sociedade e no emprego para um discurso de extermínio da massa não empregável. Não interessa ao capital ressocializar os presos, pois não tem interesse em formar mão de obra. Crises ambientais e epidêmicas também podem favorecer esses interesses genocidas das classes dominantes.
b) Em 2013 ficou bastante claro que o PT perdeu o controle das lutas que exercia via burocracia sindical sendo necessário uma nova forma de pacificação via aumento da repressão e uma estratégia de contrarrevolução preventiva.
c) A pauta da segurança pública tornou-se uma pauta fundamental na sociedade brasileira, ocupando todos os jornais e as preocupações da população. A ascensão de delegados, policiais e militares do exército ao poder político expressa uma das faces do Estado de contrainsurgência que é interferência política cada vez maior das Forças Armadas. E é justamente no aumento do poder punitivo do Estado que avança um Estado policialesco que confronta toda e qualquer militância política e luta popular.
d) Há um claro avanço da ideologização da aristocracia do judiciário, tomada pelo discurso anticorrupção, anticlasse política e antiesquerdismo, que se apossou de quase toda a pequena burguesia. Isso faz com que juízes e promotores atuem de forma claramente política em prol do fortalecimento do poder punitivo do Estado, utilizando-se de sua autonomia e poder profissional para tentar a condenação de militantes.
e) O avanço da pauta da segurança pública combinada com a impossibilidade de estabelecimento de um pacto social ampliou também o poder da polícia, desde os governos do PT, visando a integração entre as diferentes forças de repressão e fortalecendo também os serviços de inteligência.
O Brasil tem uma dualidade interna em sua realidade política. Temos uma dualidade de sistemas políticos, que operam simultaneamente e se complementam, mas, ao mesmo tempo, se excluem. Um sistema político formal, liberal e republicano, que agrupa o poder das instituições representativas (partidos, sindicatos, associações civis) e os poderes judiciário, executivo e legislativo. Esse sistema, pela própria natureza colonial do Estado e do capitalismo brasileiro, é restrito em termos de classe e étnico-racial. É um sistema que existe para minorias, mas que engloba e coopta parcelas significativas dos oprimidos. Ele existe especialmente como sistema de competição partidária para o poder executivo e legislativo.
Articulado a esse sistema, existe um sistema político informal, em que operam o uso da força policial e militar e organizações estatais clandestinas com autorização para execuções sumárias. É um sistema em que o poder absoluto dos chefes existe, em que eles podem mandar e desmandar. Esse sistema político é o que alcança a grande massa da população através da força policial e das milícias paramilitares, mas também do abuso de poder de vereadores, deputados, chefes de empresas e órgãos públicos, que monopolizam recursos públicos (através da corrupção) e violam direitos básicos.
O projeto de poder do bolsonarismo tem levado essa dualidade política ao seu limite, pois ela integra cada vez mais as milícias e grupos de extermínio (sempre existentes e fundamentais na estrutura colonial brasileira) nas disputas partidárias e até ao governo federal (o assassinato de Marielle e Anderson demonstra isso). Essa questão apresenta alguns cenários importantes a serem considerados:
1) Um golpe militar que desestruture de forma geral as instituições democrático-burguesas e republicanas em favor do sistema político ditatorial de base miliciano-clerical-burguesa que ascenderia ao exercício do poder de Estado;
2) Uma ofensiva da burocracia partidária e republicana de direita e de esquerda, apoiada na insatisfação de setores populares e da burguesia, para realização de um impeachment e manutenção da ordem burguesa e republicana;
3) A articulação da burguesia para uma reestruturação política por meio das eleições de 2022, que pode apontar tanto para uma alternativa eleitoral mais pragmática e neoliberal (sem o bolsonarismo) ou um novo pacto de conciliação de classes com as burocracias sindicais-partidárias de esquerda.
Em todos os cenários apontados, a tendência é de ampliação e aperfeiçoamento da repressão e aumento da exploração sobre as massas trabalhadoras. O programa protofascista e ultraliberal do governo Bolsonaro-Mourão aponta para uma nova etapa de repressão ao povo acompanhada de políticas entreguistas, com avanço de privatizações, desmonte dos serviços públicos e destruição dos direitos sociais e trabalhistas.
3.3 A ofensiva genocida, ultraliberal e clerical do governo Bolsonaro
Apesar de ser vendido como “outsider” e “antissistema”, as bases de sustentação do governo Bolsonaro/Mourão estão totalmente estabelecidas entre os setores da “velha política”, quer dizer, os poderosos e exploradores de sempre. A agenda conservadora imposta por esse bloco ultraliberal, teológico e militarista em nome do máximo lucro da burguesia significará o aumento da repressão e o genocídio do nosso povo, a superexploração e a precarização das condições de trabalho e a expropriação dos trabalhadores e povos do campo.
O terrorismo de Estado que impõe o genocídio e o controle no campo e na cidade, tende a assumir as feições de uma guerra colonial aberta (contrainsurgência). As forças de repressão devem agir sob as orientações de uma guerra de extermínio contra o povo negro, favelado, camponeses, povos indígenas, quilombolas e comunidade tradicionais.
Na mesma direção, as milicias vem aumentando seu poder de influência sobre os territórios das periferias e avança a institucionalização dos jagunços do latifúndio. A mudança das normas de posse de armas em propriedades rurais, o pacote anticrime (aprovado com o apoio da esquerda institucional), a criação da Força Nacional Ambiental e os decretos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são algumas das mudanças que têm aprofundado os mecanismos de violência estatal-colonial sobre o povo.
A militarização também tem se estendido para as escolas e demais órgãos públicos. Além do programa federal de militarização das escolas, uma série de governos tem feito programas estaduais, inclusive governos do bloco socialdemocrata, tais como Bahia e Ceará. Nas universidades e instituto técnicos federais o governo tem desconsiderados as consultas eleitorais de reitorias e direções e imposto interventores. Além disso, o fenômeno da “militarização” das igrejas completa o quadro ideológico de reforço do militarismo entre os mais pobres.
Esse recrudescimento da repressão e do Estado policial-penal é a base principal sobre a qual se estrutura toda a agenda entreguista e neoliberal. Relacionada a essa política de contrainsurgência, avançam estratégias tipicamente coloniais de catequização, modernização e expropriação dos territórios indígenas, camponeses e quilombolas. Em julho de 2019, por exemplo, garimpeiros armados com metralhadoras invadiram a aldeia indígena Waiãpi, na região de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, matando o cacique Emyra Waiãpi.
Junto a guerra suja da polícia e dos jagunços, o bloco no poder impulsiona no Congresso Nacional diversos projetos que reforçam a impunidade e a legalização das práticas colonialistas mais vis de ataque aos povos do campo, como o caso do PL 191/2020 da mineração em terras indígenas; da MP 910/19 que facilita/legaliza a grilagem de terras aumentando a pressão e a violência especialmente sobre a fronteira agrícola; do Decreto nº 10.252 que extingue o Pronera; da redução de investimentos para a “agricultura familiar” tal como o PAA; mercantilização das terras de reforma agrária aumentando a pressão sobre os camponeses no sentido da desterritorialização; flexibilização do controle e liberação de agrotóxicos: alteração da legislação ambiental; etc.
O bloco socialdemocrata, através dos governos estaduais, também tem dado continuidade ao modelo neoextrativista. No Ceará, o governo de Camilo Santana (PT) em articulação com o empresariado aprova a liberação de uma nova termelétrica fóssil que vai gerar impactos climáticos e socioambientais em uma região do estado que já vem sendo devastada por complexos industriais.
No Maranhão, o governo de Flávio Dino (PCdoB), em articulação com a burguesia industrial e extrativista, tem realizado uma política de violência e expropriação contra comunidades locais ocasionada pela concessão aos EUA da base de Alcântara (em acordo com Bolsonaro), a duplicação da BR-135, a construção de uma linha de transmissão de energia e de um porto privado internacional (com a multinacional chinesa CCCC).
Na Bahia, o governo Rui Costa (PT) também está por trás de uma série de ataques aos povos do campo, tal como a reintegração de posse de mais de 700 famílias sem-terra em novembro de 2019.
Há uma tensão entre a burguesia rural e os caminhoneiros que se expressa no tabelamento do frete criado pelo presidente Temer para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros. A burguesia rural ataca o tabelamento do frete uma vez que encarece o custo do seu produto no momento do escoamento. Mas o governo Bolsonaro, alertado pelos serviços de inteligência sobre a insatisfação entre caminhoneiros tem evitado eliminar o tabelamento. De todo modo, o governo Bolsonaro já informou que o objetivo é “desmamar” os caminhoneiros pouco a pouco. Isto é, acabar com a tabela do frete tão logo seja possível para atender as reivindicações da burguesia rural, o que pode abrir novos conflitos.
Além destas tensões, a burguesia rural também tensionou com Bolsonaro a inciativa de mudança da embaixada de Tel Aviv para Israel. A Brfood (Sadia e Perdigão) chegou a dizer publicamente que esperava mais moderação do presidente, uma vez que tal feito poderia gerar retaliação dos países árabes na exportação de produtos brasileiros. O mesmo tem ocorrido nas relações externas com a China e o Irã, grandes importadores de commodities agroenergéticas do Brasil.
Neste mesmo sentido, a burguesia rural tensionou com Bolsonaro no momento da crise da Amazônia. A ameaça por parte de grandes empresas internacionais de embargar a compra de grãos e couro fabricados aqui, fez com que diferentes organizações e empresas da burguesia rural pressionassem Bolsonaro para mudar a retórica sobre a Amazônia e implementar também alguma política de controle das queimadas.
Mesmo sendo estas empresas as responsáveis pelas queimadas, o risco de perda de exportação gerou tensão com o modo como Bolsonaro infla o problema e gera desgaste internacional. Compreendemos melhor essa questão dentro do quadro de tensões do neoimperialismo e do discurso “ambientalista” como regulador das estratégias de poder e acumulação de capital. O governo se utilizou da ocasião e da retórica ambientalista para aumentar a repressão ao campesinato através da criação da Força Nacional Ambiental e o decreto da GLO na Amazônia.
As políticas do governo Bolsonaro têm gerado impactos profundos para as condições de trabalho. A taxa de desemprego atingiu 12,7% no primeiro trimestre de 2019, o que representa 13,2 milhões de trabalhadores. A população de desalentados também subiu para 4,9 milhões de pessoas, e o índice de subutilizados também cresceu. As mulheres e pessoas com 40 anos ou mais são a maioria de desempregados. A região com maior número de pessoas desempregadas é o nordeste (IPEA). Em julho de 2019, o trabalho informal apresentou recorde com 24,2 milhões, tendo havido um aumento de 3,9% (441 mil pessoas) frente ao trimestre anterior.
Somando-se aos ataques efetivados pelos governos petistas (reformas da previdência, trabalhista, etc.), pela “Agenda Brasil” do governo Temer (tal como EC 95 e Reforma Trabalhista), o governo Bolsonaro em apenas um ano – diante da covardia e apatia das burocracias sindicais – avançou na dilapidação dos direitos do povo.
Em abril, o governo editou a MP 881, conhecida como “nova reforma trabalhista” que, dentre outras coisas, liberou o trabalho aos domingos e feriados, flexibilizou regras de segurança e saúde do trabalhador, etc. A reforma da previdência, que havia sido barrada pelas greves e lutas durante o governo Temer, foi aprovada em outubro de 2019 atacando a aposentadoria e seguridade social dos trabalhadores. Ainda a MP 905 altera mais de 86 itens CLT e cria a “carteira de trabalho verde e amarelo”, ampliando formas precárias e temporárias de trabalho, principalmente para os jovens marginalizados. Ao mesmo tempo, o ajuste fiscal acaba por desgastar mais ainda o precário serviço público, cujo usuário fundamental é o proletariado marginal.
Assim, os serviços de saúde e educação torna-se mais precários, potencializando a revolta da massa do proletariado marginal e também dos trabalhadores do serviço público e estudantes. O ajuste fiscal afetou todas as áreas, com exceção daquelas que sempre foram privilegiadas: o judiciário e o legislativo. Todas essas medidas que impõe exploração e miséria ao nosso povo buscam atender a ganância das frações burguesas (financeira, industrial, rural, comercial) que apoiam o bloco no poder.
Na Educação, a política foi de perseguição a professores, ameaça à liberdade de cátedra, e até a invasão de universidades. A educação sozinha representa 18% do total do contingenciamento (corte de bolsas, finais de programa, etc.). O PL Future-se é a grande arma para transformação dos modelos de educação que temos hoje, pois altera 16 leis nos mais variados ângulos da educação, propõe mudanças na LDB, na ciência e tecnologia, na comercialização da energia elétrica, cultura, de normas tributárias, organizações sociais, carreira de magistério superior e EBSERH.
Em janeiro de 2019, o Congresso aprovou o corte orçamentário de R$ 1 bilhão para a saúde pública, sendo o prenúncio de um ano de desmontes e retrocessos. O governo Bolsonaro impôs uma série de obstáculos aos usuários do SUS. Com menos dinheiro, as consequências eram inevitáveis: hospitais sucateados, menos servidores em campo, remédios em falta. A saúde indígena também sofreu ataques do governo. O próprio ministro da Saúde, Luiz Mandetta, chegou a propor a cobrança de atendimento no SUS.
O arrocho financeiro impactou no fechamento de 400 farmácias populares desde 2016, deixando de atender milhões de pessoas. Durante 2019, o Ministério da Saúde também suspendeu o contrato com sete grandes laboratórios públicos, usados para a produção de 19 medicamentos distribuídos pelo SUS. Além disso, na contramão da saúde do povo, o governo liberou a maior quantidade de agrotóxicos dos últimos 14 anos.
Ao observar os gastos autorizados no início do ano e os cortes para o contingenciamento, a área mais afetada foi a habitação, com corte de 90% dos recursos. A segunda área mais afetada foi a dos Direitos da Cidadania, com cortes de 27% dos recursos autorizados, nela se concentram as políticas voltadas para as mulheres, população indígena, negra, imigrantes, consumidores e pessoas com deficiência. Os programas que mais sofreram nessa área, foram: Justiça, Cidadania e Segurança Pública (com corte de 44,9%) e o Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas.
Em relação a política entreguista do bloco conservador é importante dizer que, apesar de seguir alguns aspectos de continuidade com o bloco socialdemocrata, ela amplia ainda mais as privatizações de setores estratégicos e termos de contratos que visam favorecer preferencialmente os EUA, mas também China, Reino Unido, França, etc.
De 2013 a 2018, cerca de 400 empresas brasileiras foram compradas pelo capital estrangeiro, que desembolsou aproximadamente 133 bilhões de reais para as aquisições, segundo dados da Transactional Track Record (TTR). Entre os principais compradores, estão os EUA com 75 operações; China, 23; França, 22; Reino Unido, 20; Alemanha, 17. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) dão conta de que, em 2010, o capital estrangeiro respondia por 27% dos investimentos privados em infraestrutura no Brasil, o que em 2018 subiu para 70%. Pelas contas do governo, de 2009 para cá, quase metade do dinheiro chinês investido no Brasil foi para o setor elétrico, por exemplo.
Segundo a plataforma Land Matrix, o Brasil está entre os cinco países com maior área de terras agrárias vendidas a estrangeiros entre 2000 e 2015. As áreas preferenciais têm sido em Mato Grosso e Matopiba (principal fronteira agrícola no Brasil). Este conjunto de dados apontam uma política de privatizações ou fusões, o que contribuiu na formação de monopólios globais, com desnacionalização de terras e riquezas e superexploração da classe trabalhadora.
A sinalização do governo Bolsonaro para as privatizações de empresas inclui desde os Correios, Embraer, passando por Serpro e Dataprev (com enorme e inestimável banco de dados nacional, hoje importante mercado), presídios (como os pretendidos por Dória em SP, para maior lucro e disciplina no “mercado de presos”) até a tão pretendida Petrobras, que já vendeu subsidiárias e leiloa exploração no pré-sal. Privatizar e desnacionalizar tem relação forte com os pacotes de reformas aprovadas e em andamento, como a da Previdência, a Trabalhista, a Tributária.
Há também a ascensão do poder clerical na sociedade e no Estado. Aqueles que vem sofrendo mais com o aumento desse poder são as populações negras e indígenas, vítimas de extorsão econômica (gerando uma desigualdade de renda gritante entre crentes e pastores), de discriminação religiosa (que envolve desde projetos de catequização à ataques físicos a símbolos/espaços de religiosidades de origem africana e indígena) e dominação patriarcal (negando a autonomia feminina sobre o seu corpo, trabalho e território). O poder clerical ganha cada vez mais espaço em instituições e políticas de governo, em escolas, universidades, políticas de saúde, políticas antidiscriminatórias, políticas para a infância e adolescência, etc.
É fundamental que a linha sindicalista revolucionária defenda a livre crença e não coloque os aspectos morais e religiosos como primeiro plano da união popular. Mas isso não significa que a estrutura de poder clerical não deva ser combatida. Assim, não se pode fechar os olhos para a violência patriarcal, mercantilista e racista (enfim, colonial) aprofundada pelo poder clerical, especialmente sua fração neopentecostal-sionista.
Não podemos desconsiderar o papel real e nefasto que cumpre as estruturas desse poder no reforço de preconceitos e discriminações entre o povo, que têm sido promovidos e inculcados pelas instituições religiosas. O fato de crentes pobres reproduzirem esses preconceitos não indica que sejam opressores, mas que vivem sob um regime de opressão. O trabalhador crente também é uma vítima desse poder clerical. Daí a importância de construir estratégias que impulsionem a resistência e minem esse poder, colocando as próprias bases religiosas contra os seus algozes e opressores.
4. Linha de massas: cenários e estratégias de resistência
A conjuntura nacional aponta para o acirramento dos conflitos da classe trabalhadora com o Estado e com a burguesia. Ao contrário do alarmismo das organizações e da militância socialdemocrata, o povo não se encontra nem apático, nem defendendo o ideário fascista. O ciclo de lutas iniciado em 2013 ainda não se encerrou e a tendência é de emergência de novas revoltas e lutas. Encontramos, na luta de classes, o desenvolvimento das forças pela liberdade em oposição ao avanço das forças da autoridade. Ao contrário, por parte da socialdemocracia, o que temos visto é a mais aberta capitulação diante das forças reacionárias e burguesas.
Ainda assim, a classe trabalhadora continua lutando. O movimento indígena tem se mostrado um dos principais protagonistas do enfrentamento contra o governo Bolsonaro, assim como foi ao avanço do neoextrativismo nos governos do PT. As “retomadas” de suas terras ancestrais, sem espera pela tutela estatal, são o ponto mais avançado da ação direta por terra e liberdade hoje no Brasil. Essa tática de luta pela terra precisa ser fortemente apoiada, expandida e impulsionada para outros setores do campesinato.
Além disso, o proletariado marginal tem gerado lutas mais ou menos espontâneas e auto-organizadas, por parte de famílias de jovens assassinados e encarcerados, por parte de ambulantes em luta pelo direito de trabalhar, além dos trabalhadores terceirizados, de aplicativos, de call centers e de supermercados, que também tem experimentado novas formas de luta e organização.
A política neoliberal e interventora de cortes na educação, saúde e retirada de direitos de forma geral também levou a lutas e greves contra a reforma da previdência (tanto a federal como as estaduais), lutas contra os cortes na educação, contra o Future-se e pela autonomia universitária (com destaque para o ato do dia 30/05, que surge por fora das burocracias sindicais), uma greve nacional histórica dos petroleiros, greves de professores, dentre outras.
A principal estratégia da socialdemocracia nessas lutas foi impor ao movimento sindical-popular uma linha política passiva e condicionada à atuação de seus parlamentares e à sua participação eleitoral em 2020 e 2022. Na prática, as centrais sindicais hegemônicas foram fundamentais para desorganizar a resistência e garantir a aprovação das medidas anti-povo. A atuação das centrais se deu em três sentidos:
1) Por um lado, tomaram a iniciativa de convocar alguns atos e dias nacionais de lutas, impedindo que alternativas mais autônomas surgissem; 2) Por outro lado, agiram ativamente para que os atos fossem mal preparados, esvaziados e que não expressassem, em sua forma e conteúdo, um antagonismo efetivo e direto com o governo e as estruturas de poder; 3) Atuaram para que a insatisfação em alguns setores da classe não se tornasse uma onda de greves ou para que fosse canalizada para uma grande caravana de todo país para marchar em Brasília, tal como o Ocupa Brasília em 2016.
Essa prática da socialdemocracia tem deixado clara a sua estratégia: desgastar a imagem do governo Bolsonaro através de ações de massas simbólicas e explorar as contradições midiáticas e parlamentares, reproduzir uma sensação geral de medo e de impotência na sua própria base e na classe de forma geral e buscar canalizar toda essa insatisfação e revolta contra o governo para as próximas eleições. Para o PT e o PCdoB, é melhor que essas demandas anti-populares sejam aprovadas agora e desgastem a imagem de Bolsonaro do que elas sejam barradas e recaiam como demanda para um possível governo petista sucessor. Por isso, o discurso hegemônico do petismo tem sido o de respeitar o mandato de Bolsonaro e “dar o troco” nas próximas eleições.
A questão central é que o custo dessa estratégia eleitoreira das burocracias sindicais e partidárias é o sangue, o suor e o sofrimento do nosso povo. O ponto de descrédito que chegou a política eleitoral no Brasil exige uma estratégia, por parte da socialdemocracia, que forme uma base em absoluto desespero e indignação com o governo, mas, ao mesmo tempo, com um sentimento de impotência coletiva. Esse cenário é perfeito para o elitismo reformista, que se apresenta como um “salvador da pátria”. A máxima imperial de “dividir para governar” serve para Bolsonaro, mas também para a socialdemocracia. O petismo-reformismo precisa governar o movimento de massas (dividi-lo, pacificá-lo, centralizá-lo) para alcançar novamente o governo federal.
A crise do sindicalismo de Estado e da socialdemocracia é estrutural. Ambos dependem da classe trabalhadora inserida de modo não precário no emprego. A flexibilização das formas de trabalho, como terceirização, subempregos com alta taxa de rotatividade, a burocratização dos sindicatos e partidos que deixam de ser máquinas de enfrentamento para se tornarem máquinas eleitorais e o afastamento de suas bases, colocam estas formas tradicionais de organização em crise. Este vazio de organização, combinado com a insatisfação difusa e generalizada, faz com que os levantes sejam, em geral, mais ou menos espontâneos e explosivos.
Os partidos de esquerda são incapazes de impulsionar esta insatisfação popular. Longe disto, eles continuam tentando salvar as instituições, fazendo uma leitura política que opõe a defesa da democracia e o fascismo, a barbárie e a civilização, o amor/tolerância e o ódio. Ao tornarem-se os defensores do status quo, se tornam incapazes de andar no sentido dos instintos populares de insatisfação com a ordem. E esta postura tem muito a ver com o próprio caráter de classe da esquerda partidária, vinculada muito mais a uma aristocracia intelectual e operária que, por suas próprias condições de vida quer manter o que possui e é refratária às revoltas insurgentes, as quais despreza e, ao mesmo tempo, teme.
O sindicalismo revolucionário tem agora um grande campo para crescer. Mas, para tanto, precisa se distinguir claramente da socialdemocracia. Não podemos nos deixar capturar pela polarização (petismo x bolsonarismo) que tende a crescer em ano eleitoral. Não podemos cair no discurso da defesa abstrata da “democracia”, pois isso implica em desorganizar o trabalho preparatório de resistência (ideológico e organizativo) necessário para o enfrentamento da ofensiva que já está sendo realizada e será aprofundada. A defesa abstrata da “democracia” tem se mostrado uma narrativa que significa basicamente o retorno do bloco socialdemocrata ao poder. Não tem significado nenhum avanço real em direitos para a classe trabalhadora. Ao contrário, os reformistas têm, por todo lado, feito conchavos com o bloco conservador e inclusive apoiado o seu programa quando estão nos governos estaduais.
Por outro lado, o senso comum de votar no “menos pior” evidencia um certo limbo da política brasileira. Ao mesmo tempo que expressa uma crítica aos candidatos (todos são ruins), se coloca em posição de impotência e passividade, na qual o adesismo ao “menos pior” seja a única postura possível para impedir que o “inimigo” (o “mais pior”) assuma o poder. O anti-bolsonarismo e o anti-petismo surfam nessa falta de uma alternativa real para a classe trabalhadora. O que a crise política e o primeiro ano de governo Bolsonaro tem demonstrado é que a maior ameaça para o projeto da socialdemocracia não é o bolsonarismo (e vice-versa), mas a emergência de uma força coletiva autônoma do proletariado que seja impossível governar ou destruir.
Por isso, a missão dos anarquistas para o próximo período é exatamente fortalecer essa força coletiva. Ela não será “criada” do nada, ela já existe em estado potencial nos saberes e práticas da classe trabalhadora, ainda que com várias contradições. A sua matéria prima são tanto as lutas e revoltas que tem surgido por fora das burocracias quanto as lutas dirigidas pela burocracia sindical. No primeiro caso, o papel dos revolucionários é mais construtivo e diretivo e, no segundo caso, é mais de oposição e aprofundamento da contradição entre direção e base. Além disso, existem demandas de sobrevivência da classe que impulsionam ações de solidariedade e mutualidade. Em todas elas existem contradições sobre as quais é possível atuar.
Todas as experiências de luta e auto-organização, por mais locais e diversas que sejam, são importantes na medida em que respondem a demandas reais do povo e devem ser canalizadas para o projeto estratégico comum de construção de uma Confederação Sindicalista Revolucionária de massas no Brasil. O tempo da dualidade “burocratismo x ativismo” acabou. Eles são faces da mesma moeda, assim como “lulismo x bolsonarismo”. Essas falsas polarizações têm levado a classe trabalhadora para um “beco sem saída”, pois se desenvolvem para a manutenção do sistema e afastam a classe trabalhadora da verdadeira luta pela sua libertação, a luta da liberdade contra a autoridade.
Apesar das grandes possibilidades que podem se abrir no próximo período, no curtíssimo prazo os cenários serão difíceis para as alternativas revolucionárias e combativas. Será fundamental uma luta de palmo a palmo, casa a casa, rua a rua, combatendo em duas frentes: a reação clerical militar-burguesa e o lulismo-reformismo que aposta suas fichas na administração do governo federal. A estratégia revolucionária é resistir localmente, seguir construindo nacionalmente e expandir a convocatória a todos os sinceros militantes e movimentos combativos do Brasil. É preciso fazer um apelo histórico para o rompimento com o isolamento, o ativismo e o burocratismo ao qual alguns setores combativos ainda estão atrelados.
É importante cada militante se atentar ao método materialista de mobilização, para não se expor e se isolar com um estilo clichê meramente agitativo, que serve apenas para “demarcar posição ideológica”, mas que tem pouca efetividade para as tarefas da luta de massas. Contará mais a criação de meios concretos para, de fato, massificar os sindicatos revolucionários e autônomos (melhorar as formas de arrecadação, filiação, apoio jurídico, métodos de greves e lutas reivindicativas, etc.).
É importante aprofundar a transição na linha de massas de uma estrutura de “oposição” para a construção de verdadeiras organizações representativas que façam a luta reivindicativa. Para isso, é fundamental distinguir o papel do braço de massas e o papel da organização anarquista, sem querer transpor para o braço de massas as tarefas político-ideológicas da organização, pois isso gera, na prática, uma sabotagem do potencial de ambas.
É importante preparar mais do que uma campanha de boicote eleitoral para as eleições de 2022. O cenário mais provável será de uma forte polarização política “lulismo x bolsonarismo”. É necessário aprofundar a luta ideológica e política, em cada base e região, sobre a construção do Congresso do Povo e das assembleias populares como verdadeira alternativa de contrapoder para a classe trabalhadora. A política revolucionária e anarquista de negação da via eleitoral exige um passo além, sob o risco de ser neutralizada pela polarização sistêmica: é necessário que se construa uma forte campanha nacional de construção do poder popular (Congresso do Povo) e de defesa dos direitos, em unidade com o boicote eleitoral.
4.1 Terra e Liberdade: a teoria e política bakuninista da questão nacional, anticolonial e internacionalista
Após a segunda guerra mundial, praticamente todas as revoluções populares instrumentalizaram de alguma forma a questão nacional (como na China, Vietnã, Cuba, Argélia, etc) mas, em sua maioria, degeneraram como revolução e se reintegraram ao sistema-mundo capitalista como nações subordinadas. Assim, não foram capazes de romper com a dinâmica internacional do imperialismo e da dependência. Estes movimentos de libertação nacional na periferia do sistema-mundo estavam influenciados seja por concepções socialistas (oriundas da 3ª internacional comunista ou da Tricontinental) ou do republicanismo/nacionalismo burguês, fato que não impediu a colaboração dessas duas linhas em diversos momentos históricos. Nesse sentido, cabe uma crítica teórica relativa a essa questão.
Em primeiro lugar, existe uma visão corrente de que o marxismo, pelo fato de possuir concepção economicista, teria alijado o debate da “questão nacional” e se centrado apenas na “questão de classe”. Essa visão é equivocada, dado que Marx e Engels muitas vezes se posicionaram na política concreta a favor das nações economicamente desenvolvidas em detrimento das nações e povos oprimidos (como nos casos dos eslavos, da Índia e do México). Segundo, a virada orientalista delineada a partir da Revolução Russa de 1917, materializada na política para os países coloniais e semicoloniais da 3ª Internacional, ainda que represente um avanço em relação a socialdemocracia clássica, reproduziu visões etapistas que previam a aliança com a burguesia nacional e mantinham a perspectiva estatista de revolução.
Os debates trazidos pelo “pan-africanismo” e as teorias decoloniais são fundamentais por revelar a face da colonialidade e do imperialismo no século XXI, mas não necessariamente apontam para emancipações substantivas se continuarem a operar nos quadros das revoluções anticoloniais do século XX, nas quais tiveram origem. Os movimentos “pan-nacionalistas” (pan-arabismo, pan-africanismo, pan-eslavismo, pan-indianismo, etc), apesar de suas notáveis diferenças, tem como uma de suas principais características a constituição de ontologias centralistas fundamentadas na ideia de “Estado-Nação”. Por outro lado, o anarquismo, surgido a partir e, ao mesmo tempo, da crítica ao “pan-eslavismo”, oferece um paradigma científico e popular que, apesar de subalternizado historicamente, fornece uma crítica contundente ao paradigma centralista do Estado-Nação.
Frente ao processo de integração sistêmica dos movimentos de libertação nacional, acreditamos que as vias que reivindicam a autonomia dos povos “fora do Estado”, como os zapatistas e curdos, com todas as suas contradições, respondem a um problema histórico do século XX e constroem novos caminhos para a autodeterminação e autogoverno dos povos-nações oprimidos. Nesse sentido, vemos uma conexão entre os dilemas pontuados pelos novos e periféricos movimentos de libertação nacional da atualidade com a elaboração da teoria bakuninista, elemento que pode oferecer novos paradigmas interpretativos e políticos para os movimentos de libertação dos povos-nações subalternos.
A elaboração político-teórica de Mikhail Bakunin traz importante contribuição sobre o problema da Questão Nacional. Bakunin produziu uma análise da resistência popular aos Estados imperiais europeus e seu papel colonial sobre os povos marginalizados do continente, principalmente camponeses e operários superexplorados de nações oprimidas. Esta perspectiva, constantemente esquecida, marca sua trajetória política e de todo um setor do movimento operário e socialista europeu, que passa da luta anti-imperialista, vinculada à luta pela liberdade dos povos-nações oprimidos, para a luta anti-estatista, revolucionária e socialista. Bakunin, no período que compreende 1848-1876, elabora uma dura crítica ao Estado-Nação apontando para a autodeterminação dos povos e da classe trabalhadora. Não à toa, no auge de sua atuação política, afirma: “sigo sendo francamente um patriota de todas as pátrias oprimidas” (BAKUNIN, Carta aos meus amigos da Itália, 1871).
A percepção de Bakunin acerca da Questão Nacional possibilitou que este desvelasse a estratificação da classe trabalhadora entre as nações centrais e periféricas, percebendo pioneiramente a formação do duplo mercado de trabalho vinculado às estruturas do colonialismo europeu, interno e externo. Muito antes de Lênin, Bakunin já havia percebido a formação de uma aristocracia operária nas nações imperialistas, ligada à consolidação dos Impérios, principalmente nos países germânicos-anglo-saxões, que se diferenciava da massa da classe trabalhadora superexplorada dos demais países.
Essa perspectiva o levou a defender, no nível teórico e prático, o papel protagonista das massas trabalhadoras das nações oprimidas (camponeses, servos, escravos e o proletariado “esfarrapado”) na revolução social. A lógica que aplicou na análise de classes na década de 1860-1870 é profundamente semelhante à lógica que aplicou ao estudo da Questão Nacional em 1840. Assim, a luta do campesinato eslavo superexplorado e oprimido nacionalmente que aparece no primeiro momento, se desdobra teoricamente na defesa do protagonismo dos setores mais explorados na revolução social.
Um dos documentos centrais que sintetiza o pensamento de Bakunin neste período é o escrito “Aos Russos, Poloneses e a todos meus amigos eslavos” de 1862, que nos parece uma espécie de balanço do projeto organizativo e programático do Populismo Revolucionário. Neste documento, Bakunin aborda a criação do grupo Terra e Liberdade, o programa socialista e camponês, a ideia de federação em contraposição ao centralismo e a crítica à degeneração do movimento nacionalista polonês. Resumimos aqui as principais contribuições do que chamamos de “Populismo Revolucionário”, sintetizado por seu lema principal “Terra e Liberdade”:
a) crítica ao centralismo epistemológico e ao projeto de modernidade capitalista baseados nos modelos/povos da Europa ocidental presentes nos movimentos liberais e socialdemocratas;
b) incorporação dos saberes e lutas dos povos originários ao projeto revolucionário;
c) defesa da insurreição e da aliança camponesa-operária;
d) defesa de um socialismo de base agrário-camponesa;
e) defesa de uma federação das comunas camponesas;
f) direito à autodeterminação dos povos;
g) defesa do armamento nacional.
Não à toa o anarquismo se expandiu para os países periféricos e semiperiféricos no último quartel do século XIX, levando consigo a linha Populista e Sindicalista Revolucionária. Dessa tradição, vinculada ao populismo revolucionário, temos algumas experiências históricas que devemos ressaltar: o Magonismo e o Zapatismo na Revolução Mexicana de 1910, o papel da Makhnovitchina na Revolução Ucraniana de 1917-19, e o papel dos anarquistas na Comuna da Manchúria (Coréia) em 1929-1932. Todas sob o lema de “Terra e Liberdade”, com forte conotação anti-imperialista e baseadas na construção de territórios livres defendidos pela insurreição camponesa, de caráter federalista e socialista.
Podemos dizer, então, que o anarquismo foi fruto de dois movimentos: a radicalização do populismo revolucionário russo e sua fusão com a corrente operária mutualista no interior da AIT, dando origem à ala coletivista ou socialista revolucionária. No encontro dessas perspectivas, se processaram as concepções fundamentais do anarquismo: a aliança operário-camponesa, o sindicalismo revolucionário, a revolução anti-capitalista, anti-estatista e, portanto, anticolonial, de baixo para cima e da periferia para o centro.
Em nossa visão, o populismo revolucionário está para o anarquismo da mesma forma que o sindicalismo revolucionário. Ambos os setores existiram na AIT (vide que as seções da AIT na Rússia e no leste europeu eram marcadamente influenciadas pelo populismo), mas só atingiram sua potência no início do século XX – o Populismo Revolucionário na Ucrânia, Manchúria e no México, e o Sindicalismo Revolucionário em todo mundo.
Dessa forma, o anarquismo funda uma linha integradora para as lutas de classes e para as lutas de libertação nacional. Mas nem sempre ela se desenvolveu unificada desta forma, e o caso do próprio México é emblemático, em que uma insurreição camponesa de caráter federalista e socialista, que alçou o lema populista “Terra e Liberdade”, sob a liderança de Emiliano Zapata, sofreu com uma dura reação perpetrada pela burguesia em aliança aos “sindicatos revolucionários” operários que consideravam os camponeses insurgentes “conservadores” devido, entre outros elementos, à religiosidade popular.
A separação entre populismo revolucionário e sindicalismo revolucionário, levada a cabo pelas revisões feitas ao pensamento bakuninista, produziu processos de degeneração e isolamento do projeto revolucionário anarquista tanto na cidade como no campo. Assim, avaliamos que, entre outros elementos, a falta de uma rearticulação da linha sindicalista e populista revolucionária, na ideia de uma confederação de trabalhadores e povos livres em luta, foi uma das debilidades do anarquismo, em seu processo de expansão global no século XX, para intervir de maneira mais contundente nas lutas dos povos do terceiro mundo, e promover a articulação mais consistente da luta dos povos negros e indígenas a seu projeto revolucionário.
Ainda que tenham existido experiências nesse sentido, sua sistematização muitas vezes não foi realizada, ou precisa ser recuperada. O debate atual sobre a autodeterminação dos povos no interior dos movimentos indígenas e negros na América Latina pode trazer contribuições inovadoras para os dilemas dos movimentos de libertação nacional e social, e o anarquismo tem uma contribuição para esse processo, assim como deve saber aprender e integrar em sua perspectiva as experiências de luta dos povos-nações oprimidos em todo o mundo.
A derrota dessas experiências e o revisionismo operado na teoria anarquista relegaram a interpretação bakuninista da questão nacional ao esquecimento e à estagnação, muitas vezes transformando o internacionalismo em um princípio abstrato e distante dos povos colonizados, ou deixando-o ser capturado pela linha marxista ou liberal. Dessa forma, o anarquismo foi perdendo paulatinamente a capacidade de responder às demandas da luta de classes na periferia do capitalismo e abrindo brechas para as correntes estatistas, fossem nacionalistas ou comunistas, que tomaram a direção desses movimentos por volta da década 1930.
4.2 Construir a aliança revolucionária das classes trabalhadoras e povos oprimidos
Nessa conjuntura nacional e internacional, de ofensiva conservadora e de extrema direita, é fundamental retomar a crítica anarquista das experiências das frentes únicas antifascistas e anti-imperialista com as burguesias nacionais. Bakunin, Makhno e o Amigos de Durruti legaram um importante debate teórico-político sobre as alianças em torno de projetos nacionais-democráticos hegemonizados pela burguesia. É tarefa dos bakuninistas na atualidade contribuir teoricamente e politicamente com a defesa da intransigência de classe, contra as várias propostas de conciliação de classe “contra o fascismo” ou “em defesa da democracia” que tem surgido desde o início da crise da socialdemocracia no mundo e, mais especificamente, do lulismo no Brasil.
Tem sido reeditada a ideia de “frentes democráticas” entre partidos republicanos, socialdemocratas e direitistas com o objetivo de defender as instituições da democracia burguesa. Essa política de conciliação de classes não tem se restringido apenas ao campo eleitoral, mas também tem influenciado mais ou menos o movimento sindical e popular em todo o país. O que devemos reafirmar no movimento de massas é que a política de conciliação de classes e a desorganização e recuo da classe trabalhadora são consequências diretas da estratégia socialdemocrata (PT, PCdoB, PSOL, etc.), o que fortalece o avanço da extrema direita e da exploração do povo. O reformismo é a antessala do conservadorismo. Por isso, essas “frentes democráticas” não combatem o fascismo ou a ditadura em sua raiz, mas são somente estratégias para que os partidos da esquerda e da direita institucional retornem ao poder.
Além disso, frente a toda a ofensiva conservadora, existe uma demanda legítima pela organização de coletivos antifascistas. No entanto, esses coletivos “antifas” têm apresentado dois problemas: 1) sua captura pelas polarizações eleitorais, servindo muitas vezes de instrumentos do reformismo; 2) uma concepção do antifascismo baseada em um viés eurocêntrico e, as vezes, contracultural, que impede o seu avanço. É necessário um trabalho militante paciente, junto aos coletivos antifas e movimentos populares, que desmascare o oportunismo das “frentes democráticas” dos partidos socialdemocratas. Que deixe claro que ao se manter o compromisso com o desenvolvimento do estatismo e do capitalismo brasileiro, é impossível o combate real às raízes do militarismo, do colonialismo e do imperialismo.
Além disso, é fundamental nos atentarmos aos aspectos do colonialismo e imperialismo que impactam as estruturas de classes e étnico-raciais do Brasil. A linha anticolonial, classista e internacionalista que daremos continuidade e aprofundamento no próximo período se traduz na aliança revolucionária das classes trabalhadoras e povos oprimidos. Essa linha é local, nacional e internacional.
Olhando para a escala local, destaca-se a importância das ações nos nossos bairros periféricos, favelas e presídios, bem como junto às comunidades camponesas, indígenas e quilombolas. Esse trabalho não deve ser somente de fora pra dentro (do tipo assistencialista), mas deve ser uma verdadeira aliança e solidariedade revolucionária e classista entre cidade e campo. Reafirmamos a importância estratégica da defesa dos territórios indígenas, quilombolas, camponeses e periféricos para a luta contra o colonialismo interno.
Em segundo lugar, olhando para o território nacional, é fundamental expandir as formas de resistência e auto-organização popular para as cidades pequenas e médias e integrá-las ao movimento revolucionário regional e nacional. É preciso um método de construção da Confederação Sindicalista Revolucionária que abranja não apenas os trabalhadores urbanos ou assalariados, ou mesmo os grandes centros urbanos e capitais, mas que se expanda e agregue os movimentos do proletariado marginal, dos trabalhadores das pequenas e médias cidades e dos povos do campo, indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
Além disso, a importância geográfica nacional (não apenas setorial ou social) das cidades pequenas e médias é que elas são o espaço privilegiado para a consolidação da aliança operário-camponesa. Esses territórios periféricos no campo e na cidade concentram a ampla maioria do proletariado marginal e do campesinato, frações de classe estratégicas para a revolução brasileira, e, não por acaso, alvos prioritários da política militarista e colonialista do Estado.
Essa linha de articulação orgânica significa muito mais do que o reformismo (marxista ou libertário) tem feito com uma atuação de apoio a movimentos populares em paralelo e com status inferior ao das estruturas sindicais formais e oficiais. O fato é que o sindicalismo de Estado é parte do Estado colonial brasileiro. Ele é a estrutura hegemônica de controle e fragmentação do Estado sobre a classe trabalhadora. Assim, a linha de massa revolucionária deve necessariamente caminhar para articular uma pressão para a destruição do sindicalismo de Estado por dentro e por fora, com movimentos e federações autônomas.
O combate às estruturas e à hegemonia do sindicalismo de Estado no Brasil é uma tarefa irremediável e incontornável da construção da aliança revolucionária das classes trabalhadoras e povos oprimidos. A experiência dos governos petistas demonstrou o papel nefasto cumprido pela burocracia sindical e a aristocracia operária ao se integrar ao Estado e colaborar com as políticas neoextrativistas e industrialistas. Ainda hoje, em plena ofensiva conservadora, a política principal da aristocracia operária da CUT é a ilusão de um novo pacto de conciliação de classes que beneficie empresários e operários da indústria nacional. O nacionalismo, o desenvolvimentismo e o industrialismo são ideologias dessa aristocracia operária. Essas ideologias são absolutamente incompatíveis com as lutas e resistências anticoloniais dos povos.
Por último, essa linha de massas é internacional. Significa, na prática, que as organizações sindicalistas revolucionárias devem estabelecer diálogos e redes de solidariedade com as experiências de luta dos povos originários e movimentos populares nos países periféricos, tal como os curdos, zapatistas e mapuches. Essas redes devem evoluir, de acordo com as condições, para estruturas mais orgânicas de federações ou confederações regionais e internacionais de autogovernos, comunas e povos livres em luta, retomando para o século XXI a política histórica do bakuninismo.
Essa linha, tanto em escala nacional como internacional, significa uma ruptura com toda uma tradição de teorias socialdemocratas e comunistas que deturparam o princípio do internacionalismo a partir de concepções centralistas e eurocêntricas, especialmente a URSS que, no pior cenário, se direcionou para um “social-imperialismo”. Além disso, ela rompe frontalmente com a polarização interimperialista EUA x China que tem capturado muitas organizações de trabalhadores para atuar como força de apoio de interesses burgueses e estatais, muitas vezes sob a farsa de “internacionalismo”. Assim, o Internacionalismo Revolucionário, de baixo para cima, sem nenhum povo ou nação como central ou dominante sobre os demais, deve ser resgatado da tradição coletivista na Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT).
Dentro dessa linha de massas, é essencial a incorporação e o impulsionamento das lutas feministas classistas, das camponesas, indígenas, negras, trans, trabalhadoras e estudantes pobres, como parte de um programa e estratégia revolucionária de combate ao patriarcalismo, ao colonialismo e ao capitalismo. A Revolução Integral, formulação teórica e política bakuninista, é a destruição de todos os sistemas centralistas de dominação e exploração que pesam hoje sobre as classes trabalhadoras.
Assim, a construção do autogoverno e do socialismo (bases da revolução integral) não é uma noção abstrata, mas significa a desconcentração global e radical da riqueza e do poder. Envolve, portanto, a transformação profunda, e como processo integrado, das relações assimétricas de gênero, étnicas, geracionais, culturais e discriminatórias de forma geral, junto com a destruição da propriedade privada e do Estado. Caso contrário, é uma farsa.
Dessa forma, as estruturas sistêmicas patriarcais não podem ser remediadas ou “desconstruídas” individualmente ou em abordagens separatistas ou reformistas. As mulheres trabalhadoras devem estar organizadas em fortes movimentos revolucionários, nos organismos de novo poder e autogoverno, nas assembleias populares, nas cooperativas de produção e distribuição independentes, nos sindicatos autônomos, etc. As lutas femininas indígenas e comunitárias na América Latina, as greves globais de mulheres, as grandes marchas pelos direitos reprodutivos e contra o feminicídio, os círculos de autodefesa, e outros, emergem no século XXI como importantes experiências para essa nova política antipatriarcal, anticolonial e anticapitalista das classes trabalhadoras e dos povos oprimidos.
A socialdemocracia, em seu processo cíclico de se inserir no sistema, abdicou da disputa ideológica e organizativa exatamente desses territórios e setores proletários marginalizados, moldando cada vez mais o seu perfil social e territorial a padrões pequeno-burgueses e metropolitanos. A socialdemocracia age assim por que o seu objetivo são os coeficientes eleitorais (visibilidade midiática, centros administrativos de poder, metrópoles, “digital influencers” da pequena burguesia, alianças com partidos burgueses, etc.). É uma decorrência do seu centralismo epistemológico e colonial.
A teoria e a prática socialdemocrata, portanto, nunca enfrentará verdadeiramente as estruturas de poder do colonialismo interno e do imperialismo a ponto de destruí-la. Ela cria, no máximo, uma alternativa não-hegemônica, mas nunca antissistêmica. Porque toda a sua teoria e política (inclusive territorial) leva à integração sistêmica e à abdicação do enfrentamento onde ele é mais necessário para quebrar as estruturas de dominação e exploração do colonialismo interno. Por isso, ela só vê a política territorial (da construção de um poder como disputas pelo controle de frações do espaço) como uma política de Estado, ou seja, para o momento em que ela própria assumir o Estado burguês e colonialista e organizar esse território de cima para baixo.
As jornadas de junho, as ocupações de escolas, as revoltas nas obras do PAC, a greve dos caminhoneiros, a revolta popular-camponesa pela água em Correntina (BA), e outras, demonstraram não apenas o potencial revolucionário de certas frações de classe, mas também a importância estratégica da descentralização e enraizamento territorial da insurgência pelo interior do país, já que o colonialismo interno age no território nacional preferencialmente pela apropriação de terras, água e minério, redes de transporte e infraestrutura, recursos distribuídos de maneira desigual pelo espaço geográfico.
As tarefas anti-imperialistas e anticoloniais da revolução brasileira só poderão ser plenamente cumpridas com o enraizamento territorial da insurgência que poderá propiciar, a médio e longo prazo, a insurreição geral do campo e da cidade. Para tal, é importante romper com essa política centralista e colonial da socialdemocracia. É preciso unir a estratégia, teoria e tradição do sindicalismo revolucionário às práticas e teorias de resistência dos povos oprimidos do Brasil. Nessa junção histórica, o território é essencial, e dele decorrem as possibilidades de autogoverno e autonomia.
A construção do Congresso do Povo e das assembleias populares e territoriais serão essenciais nesse processo. O tema dos territórios revolucionários (ou autogovernos populares) já aparece em Bakunin quando este coloca a formação de Governos Revolucionários Provinciais, Nacionais e Regionais como estratégia da Revolução Proletária Mundial.
Para os anarquistas revolucionários, é fundamental aprender, sistematizar e incorporar ao movimento de massas revolucionário no Brasil as experiências de resistência, auto-organização e mutualidade dos povos originários, populações negras, indígenas, ribeirinhos, seringueiros, camponeses, etc. Essas lutas étnicas e nacionais demandam um método de incorporação anti-centralista (organizativa e epistemologicamente) ao processo geral da revolução brasileira e mundial, absolutamente diferente das atuais abordagens socialdemocratas e comunistas, pós-modernas e neoimperialistas.
É fundamental desenvolver um trabalho político de massas que valorize e aprenda com a experiência de resistência e organização nas pequenas e médias cidades do Brasil, que caminhe para sistematizar os limites e possibilidades do trabalho revolucionário nestas formações sociais e geográficas. Existe um determinado perfil médio militante (daquilo que é definido como qualidade, capacidade, etc.), bem como uma série de simbologias, pautas de luta, etc. que não podem se manter inalteradas em relação a militância que se desenvolve nas metrópoles e aquele que se construirá nas cidades pequenas e médias.
4.3 Só o povo salva o povo: o mutualismo na política de massas classista, anticolonial e internacionalista
A criação de práticas e laços de solidariedade entre trabalhadores é parte da história da luta pela existência das classes trabalhadoras e povos do mundo, sem se restringir ao sistema capitalista ou aos trabalhadores assalariados. No Brasil, as experiências de solidariedade e apoio mútuo como expressões de luta contra os poderes dominantes estão presentes desde as resistências ao colonialismo e ao escravismo, são experiências históricas do nosso povo.
A luta insurgente de povos indígenas e negros contra o sistema colonial escravista no Brasil desenvolveu processos avançados de resistência e solidariedade, dos quais os quilombos são a maior expressão (mas também as greves negras, sabotagens, fugas, redes de apoio, etc.). Além disso, não podemos deixar de citar a tradição de apoio mútuo do campesinato, tais como as terras de uso comum e os mutirões.
O banditismo e o messianismo popular no Brasil também foram expressões de resistência e união da classe trabalhadora brasileira contra a opressão e a exploração. As associações operárias para o socorro mútuo no século XIX e XX também foram bastante fortes e estão na origem do sindicalismo revolucionário. A origem e crescimento das Ligas Camponesas nos anos 1940-50 ocorreu, não à toa, através do apoio mútuo para a garantia de caixões para os camponeses que morriam.
O mutualismo, assim chamado por Proudhon, é uma forma de expressão da capacidade dos próprios trabalhadores de se organizarem por si mesmos e futuramente substituírem as instituições do Estado e do capital pelas próprias organizações dos trabalhadores. As práticas mutualistas tiveram centralidade para a criação dos primeiros sindicatos no Brasil e em todo mundo. Caixas de resistências, cooperativas, restaurantes comunitários, escolas, atividades culturais e recreativas eram algumas das atividades responsáveis pela massificação dos sindicatos revolucionários, já que as bases sindicais eram majoritariamente de trabalhadores pobres. Muitas dessas praticas acabaram sendo absorvidas pelo Estado e algumas influenciaram as primeiras legislações social e trabalhista.
Com o refluxo mundial do sindicalismo revolucionário após os anos 30 (devido a vários motivos como a repressão, o revisionismo e outros), essas práticas diminuíram no campo do anarquismo e sindicalismo revolucionário, mas sempre estiveram presentes de maneira difusa nas práticas cotidianas de luta pela existência de trabalhadores pobres e povos originários.
Atualmente, no Brasil, as práticas tipicamente “mutualistas” são hegemonicamente controladas pelo Estado, pelas empresas, pelas Igrejas ou por máfias políticas e criminosas. São desenvolvidas de cima para baixo para a manutenção das relações de dominação e exploração sobre o proletariado marginal. Elas tendem a aumentar a dependência dos trabalhadores em relação aos centros de poder. Não são, portanto, práticas de fato mutualistas, no sentido atribuído pelo anarquismo: de união horizontal e autônoma entre os trabalhadores com o objetivo destes se apropriarem cada vez mais das condições de reprodução da sua existência.
Hoje, com o avanço do sindicalismo revolucionário, uma oportunidade importante se abre. Quando o bakuninismo nasceu no Brasil, o anarquismo tinha pouca ou nenhuma organização entre o proletariado marginal, o que hoje é uma realidade e potencialidade na nova estrutura de massas que vem assumindo os sindicatos revolucionários e autônomos. Mas ainda é preciso adequar a estrutura dos sindicatos ao proletariado marginal e não o contrário, o que é um processo que exige pensar em dinâmicas de assembleias, linguagens, pautas e táticas que facilitem o ingresso em massa do proletariado marginal e do campesinato nessas organizações.
Nisso reside a importância do mutualismo. A linha de massas deve dar a devida centralidade ao mutualismo como propulsor do sindicalismo revolucionário. É importante que as organizações impulsionem algum projeto mutualista ou que se integrem em projetos já existentes, buscando incorporá-los ao sindicalismo revolucionário.
Existem várias demandas sociais, a depender da regi ão e da categoria, como cozinhas sociais, centros de cultura, caixas de resistência, fundos de greve, práticas esportivas, bolsas de trabalho, lavandarias comunitárias, cooperativas de produção ou de consumo, apoio psicológicos e várias outras práticas que podem ser realidade com categorias específicas ou mesmo em comunidades, bairros, favelas e até mesmo em prisões.
Por outro lado, para que essa linha não se transforme em desvios é importante ser regida por duas questões:
1) O trabalho de massas hoje consolidado em categorias e frações de classe deve ser consolidado e aprofundado, pois ele é central para expandir as práticas mutualistas e a organização do proletariado marginal. As práticas mutualistas devem servir para consolidar e expandir a unidade de classe entre os setores com mais direitos e os setores precarizados. Um exemplo é o da educação, em uma massa de terceirizados e temporários (majoritariamente mulheres e negros) está desorganizada enquanto os efetivos têm ainda uma razoável adesão às entidades de representação oficial;
2) O mutualismo não pode ser confundido com assistencialismo ou empreendedorismo. Mutualismo é auto-organização e autonomia coletiva dos trabalhadores. É um embrião da economia socialista. Assim, a linha de massas não pode dar brecha pro idealismo pequeno-burguês (em sua versão benevolente ou empreendedora), tal como fazem setores reformistas do marxismo e do ecletismo. Os pobres não são coitados que precisam ser “ajudados”, eles precisam estar organizados, assumindo o poder e o seu posto de combate na construção da grande Confederação Sindicalista Revolucionária.
A política mutualista do anarquismo e do sindicalismo revolucionário não é um fetiche. Ela surge da necessidade frente ao aumento da miséria, do desemprego, do genocídio e do encarceramento, bem como do avanço da precarização e da privatização dos serviços públicos. Portanto, deve estar integrada como parte da resistência geral pelos direitos do povo e pela revolução.
Ou seja, os paradigmas globais do liberalismo e da socialdemocracia e comunismo (privatização x estatização) devem ser superados pela construção de uma estratégia mutualista e sindicalista revolucionária, que unifique a criação de instituições econômicas e serviços públicos de novo tipo com a expropriação e autocontrole das terras e meios de produção e circulação pela própria classe trabalhadora. Essa linha mutualista, aplicada no campo e na cidade, é um instrumento fundamental da aliança operário-camponesa.
Por fim, em momentos históricos como os que estamos vivendo, não apenas no Brasil como no mundo todo, é importante reforçar o papel iniciador-dirigente dos anarquistas na luta de classes e, portanto, o papel de vanguarda que deve assumir a organização anarquista. Como diriam os makhnovistas, fugir a essa tarefa é falhar com as massas trabalhadoras e com a revolução.
Sendo assim, a estratégia da União Popular Anarquista (UNIPA) é a sua constituição como partido revolucionário anarquista e a construção do seu braço de massas e demais frentes. Reforçamos a convocação a todos os sinceros militantes do povo a ingressarem nas fileiras de combate do bakuninismo, pela causa do povo, pelo autogoverno e pelo socialismo.
Construir o Partido Revolucionário Bakuninista!
Contruir a Confederação Sindicalista Revolucionária!
Trabalhar Pela Revolução!
Anarquismo é Luta!